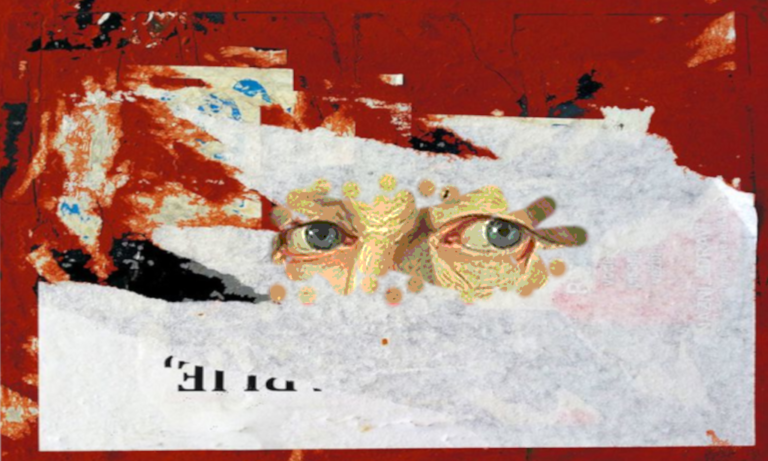Natália T. Rodrigues[1]
Os comentários a seguir foram feitos durante o debate de lançamento do livro, ocorrido em 20 de maio na UERJ. Como debatedora, optei por concentrar-me no posfácio, As razões do negacionismo: guerra civil e imaginário político moderno, afinal, é nele que o autor conduz o horror que atravessa a alvorada da modernidade capitalista até os dias infernais de hoje. Este texto é um adento a uma resenha feita outrora. Disponível em < Discurso filosófico da acumulação primitiva – >.
“A expansão capitalista aguardou os intelectuais na curva”. É assim que Chico de Oliveira, em seu impressionante ensaio de 1985, Aves de Arribação: a migração dos intelectuais, chama atenção para esse setor da classe média brasileira que tanto se beneficiou desde o processo de Abertura. Em comparação com a média dos trabalhadores, tiveram seus salários aumentados, subiram de status, passaram a escrever nos principais jornais, sendo considerados inclusive “oráculos” do que se passa no tempo do mundo. Pelo consumo e pelo modo de vida, essa gente muito sabida passou a aproximar-se muito mais das burguesias — com a diferença essencial de que são muito mais requintados: não viajam em excursões, distinguem o bom do mau vinho, falam outras línguas, têm algum conhecimento da cultura de outros povos e, ao mesmo tempo, consomem os produtos em alta no mercado — mas tudo discretamente, discretamente…
O que me parece interessante nesta descrição de Chico é justamente o fato de ele apontar com muita lucidez — porque nesta quadra da vida nacional brasileira — como grande parte dos intelectuais passou a elevar suas demandas específicas ao nível de demandas gerais da sociedade, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Ora, o que o sociólogo está tensionando é justamente o assombrosamente moderno e contemporâneo “nós” que Pedro traz à tona em mais um de seus estudos sobre a acumulação primitiva. Isto é, essa liga entre os interesses dos intelectuais — ou dos progressistas, se quisermos — e os das pessoas realmente comuns. Digamos que esse enlaçamento, embora não seja coisa inventada nem exclusivamente nossa, tem sim sua contribuição local — se é que se pode falar assim — neste círculo infernal de cinismo e violência de classe que remete, na verdade, aos tempos de Francis Bacon, Thomas More e Thomas Smith, teóricos-pontes da alvorada da modernidade, e que seguem, sem que notemos, arrancando suspiros dos progressistas de ontem e de hoje.
Ora, mas em que sentido? Fiquemos primeiro na forma como tais letrados muito bem-intencionados pensam conceitos chaves comorepública/sociedade ou mesmosociedade civil. A partir deles, os autores costuram um “comum” análogo ao sentido instaurado anos depois com o Terceiro Estado, durante a Revolução Francesa, onde “é comum qualquer um que não seja nobre nem clérigo”.[2] Acontece que esse gesto dos teóricos de incluir tanta gente em um só balaio conceitual findava abarcando as oligarquias citadinas, a pequena nobreza letrada, os terratenentes não-nobres, entre outros homens proprietários interessadíssimos na ascensão do capitalismo e, evidentemente, na parte que cabia a eles no grande latifúndio que se tornavam as terras. Fazendo estas distinções de classe, o que Pedro nos faz ver é o sentido histórico recalcado sobre por trás destas ideias de “república” ou “sociedade civil” que, na real, surgia para extirpar qualquer simpatia para com as experiências sociais pré-modernas, dentre elas: a lida direta com a terra, a satisfação imediata das necessidades e claro, as maneiras de se vestir, de se comportar e de se falar.
Haveria toda uma higienização a ser feita para que o reino de Utopia, para ficarmos talvez no melhor exemplo do livro, pudesse ser alcançado. Mas higienização contra quem? Ele mesmo, o povo embrutecido, tosco, vulgar, brucutu, grosseiro, rude, jumento, abestado, seboso, sujismundo – todos os despossuídos produzidos na violência da acumulação de capital, e que só muda de nome a depender da região. Neste ponto, a discussão que o autor traz sobre a literatura realizada nesta época e que nos enche os olhos até hoje como é o caso de Boccaccio e a de Shakespeare, é interessantíssima; depois, se Pedro quiser comentar, ficaria grata. Mas voltando às formas de nomeação da gente comum, poderíamos lembrar ainda da implicação que essa gente tem e aqui cito o autor no “descompasso moderno concreto, objetivo, entre as verdades científicas estabelecidas e as práticas de assistência e manutenção da vida”.[3] A quem interessava ou interessa as verdades científicas que atravessam nosso pensamento ontem e hoje e que foram forjadas enquanto um método rigoroso, ainda nos tempos de Bacon? Para a maioria da população é que não é. Neste sentido nosso amigo aqui não está inventando roda alguma, afinal, não são poucos os autores e autoras que questionam o sentido da ciência no mundo moderno. Poderíamos falar de Adorno, mas também mais recentemente dos trabalhos da própria Federici. Em termos bastante concretos se hoje a maioria das pessoas se mostram indiferentes às verdades científicas – ou mais explicitamente contra elas –, não é porque vivemos numa realidade extemporânea obscurantista, mas porque a própria modernidade tem, desde a sua origem, encontrado alimento nos descompassos brutais entre as tais verdades científicas e a manutenção da vida mesma. O exemplo de Pedro é cristalino: hoje mais de 1,7 milhões de pessoas são vitimadas por doenças diarreicas que poderiam ser resolvidas com hábitos básicos de higiene, mas por que isso não acontece? Por que há uma grande campanha negacionista contra o sabonete?
O piadista aqui parece querer implodir o jargão da nossa época: em tese, vivemos em tempos negacionistas. Mas seria mesmo o caso? Quem seriam os negacionistas realmente existentes? Fiquemos com mais dois palavreados ordinários: “vamos juntas” ou “ninguém solta a mão de ninguém”. Creio não estar falando nenhuma língua que vocês não dominam. Quem aqui não ficou apavorada ou apavorado com a ascensão da extrema-direita ao poder e que hoje, sabidamente, está à espreita, só aguardando para dar mais um bote? Mas vejam, não seria o caso de perguntar: vamos exatamente quem? E para onde? Também aqui se pressupõe um “nós”: eu, Natália, uma mulher progressista branca, de classe média, e outras mulheres. A faxineira que participa do grupo de oração na hora do almoço junto com os alunos do IFRJ-Maracanã, onde faço estágio, entra no jogo? Mais ainda, porque talvez eu esteja mais desesperada que ela com toda essa ascensão do que estamos chamando, por convenção, de extrema-direita. Será que é porque sou uma mulher sabida e ela não sabe que não sabe?
Esse é um dos tantos pontos que Pedro nos leva a pensar. Estamos às voltas com um “nós” fabricado desde o início da modernidade e que pouco se tensiona. Ocorre que, na hora histórica atual, a desfaçatez de classe que o velho Chico denunciava ainda em 1985 parece não encontrar mais lastro social para que se reproduza assim, tão cinicamente. As pessoas realmente comuns sabem que, na verdade, somos nós que estamos negando a realidade. Sabem que nunca fizeram parte de pacto social algum, que nunca participaram da tal “sociedade civil” tão cara à economia política. A questão agora é que a violência corrente sobre grande parte da população mundial — e com a qual nós, em tese, nos solidarizamos escrevendo textos como este — invadiu os espaços da cidadania. E aqui, cidadania está sendo compreendida em seu sentido mais original, ou seja, oligárquico. O racismo, o machismo, a misoginia, a xenofobia, a transfobia e, é claro, a violência de classe não são desgraças que vieram à tona com o bolsonarismo.
Permitam-me apresentar mais um exemplo: a Paraíba, estado em que morei por pouco mais de seis anos, tem uma plaquinha em todo estabelecimento comercial que alerta para o crime de agressão contra a população LGBT+. Isso ocorre não porque a Paraíba seja mais sensível a tais problemas em comparação com outros estados, mas porque já era, antes de Bolsonaro, um dos estados mais violentos para essa população. A irracionalidade própria à racionalidade capitalista sempre encontrou alimento nessas violências. O que muda, então? Por que o pânico generalizado entre os setores progressistas? Qual a resiliência — para usar a palavra da moda — de Bolsonaro ou de qualquer outro representante da extrema-direita global, que vem arregimentando corações e mentes de tanta gente pobre, preta, favelada, mulher, gay, nordestina? Teria o carro alegre da história capotado? Seria esse povaréu um bando de ingratos? Uns burros enfeitiçados pela lábia de um brucutu como Bolsonaro? Mais ainda: por que, quando nos pronunciamos sobre tais assuntos, tendemos sempre a dizer que estamos retornando à Idade Média, à Idade das Trevas? Que ódio é esse do medievo que se transforma em uma paixão arrebatadora pela modernidade — mais ou menos nos termos em que Pedro coloca no livro?
A questão aqui é que, tendo o carro da história capotado e pegando fogo há anos, parece que ainda nos apegamos às cinzas que cimentaram o caminho que ele trilhou: a tal da Formação, isto é a dialética entre a formação cultural e nacional. E neste ponto, não posso deixar de me referir a alguns autores chaves que se empenharam neste imaginário de certa forma com um encontro marcado com o futuro, refiro-me aqui a Caio Prado, Sérgio Buarque e, por um longo período, também Celso Furtado. No primeiro, havia a tese de que precisávamos superar nossa “inorganicidade” social trazida da Colônia; já no segundo, o país estaria formado quando ultrapassasse a herança portuguesa, rural e autoritária. Neste bojo, estaria também Celso Furtado, com a tese de que só nos tornaríamos uma nação integrada quando as principais decisões econômicas fossem tomadas endogenamente, e não no estrangeiro — posição que ele revisaria no fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, mas sobre a qual pouco se fala. Enlaçando-o no mais das vezes como um desenvolvimentista qualquer. Sobre Celso, talvez seja interessante lembrar, como alguém já disse, que é de sua autoria um dos títulos mais belos produzidos endogenamente e que sintetiza bem todo esse esforço. Refiro-me ao livro A fantasia organizada, de 1985. O que muitos esquecem de comentar é que, logo em seguida, veio outro livro, com um título menos simpático, mas talvez mais verdadeiro: A fantasia desfeita, de 1989…
Ora, nesses três pensadores há um empenho comum em torno de um ponto de chegada crucial: um certo projeto de homogeneização social, com as devidas especificidades locais, mas que estaria mais adiante, quando enfim gozaríamos de “uma virada decisiva para a vida nacional”.[4] Da conceitualização feita por tais autores para cá, muita coisa já se passou: o duro processo de Abertura, a “redemocratização”, a cretinice de um Collor, a Era do Fhnistão, a chegada de um operário ao poder, uma mulher logo descartada para que um vampiro a substituísse; em seguida, a ascensão do Mito, até a volta recente de Lula — respirando no governo, até onde se sabe, por aparelhos. Cá estamos.
Em que exatamente nos distinguimos daqueles que apostavam — em outro tempo histórico — nessa integração futura, ou “no dia D”, como chama Pedro no livro? Quando, enfim, as pessoas comuns vão ter realmente acesso à rapadura, também conhecida como sociedade civil? Esse é o trololó identificado pelo antiprogressismo, e com o qual ele tem deitado e rolado — para desespero de todos nós, progressistas, que, muito na defensiva, temos apostado em quê? Em geral, na cultura, ou talvez, para ser mais precisa, num processo de formação cultural – que se completou ou não, tanto faz. Afinal, o que seria de nossas vidas sem um Mário de Andrade para chamar de nosso? De um Machado de Assis? Sim, estou exagerando (não me arremessem uma chinelada) para que talvez consigamos ver este lugar social muito preciso (e precioso por que não?) que ocupamos e que sequer enrubescemos quando – nesta hora histórica – chamamos atenção para a cultura endógena dita: “nossa”. Mesmo em um dos nossos mestres da negatividade, isso parece ecoar. No ensaio Sete Fôlegos de um Livro, salvo engano de 1999, no qual me baseei aqui para mencionar esse pequeno balanço da nossa Formação, Roberto Schwarz analisa como Antonio Candido conseguiu, em seu livro A Formação da Literatura Brasileira, mostrar que a formação em Machado de Assis não tinha um encontro com o futuro — ela já ocorrera, já se completara, convivendo com a escravidão. Isto é, paradoxalmente, formou-se uma literatura endógena, robusta e autônoma, sem que o mesmo ocorresse com o processo de formação nacional. No entanto, em vez de dizer que de nada adiantou esse esforço civilizatório, o que Roberto Schwarz diz é o seguinte:
“A cultura formada, que alcançou uma certa organicidade, funciona como um antídoto para a tendência dissociadora da economia. É preciso reconhecer que nossa unidade cultural mais ou menos realizada é um elemento de antibarbárie, na medida em que diz que aqui se formou um todo, e que esse todo existe e faz parte interior de todos nós que nos ocupamos do assunto, e também de muitos que não se ocupam dele”.[5]
Ora essa, mas antídoto para quem? E durante quanto tempo? Que “nós” é esse? Só mesmo dentro das nossas cabeças progressistas, acostumadas a uma hegemonia cultural de esquerda — que evaporou no tempo e no espaço já faz um tempinho, se é que um dia existiu. E vejam aqui que coisa interessante nos traz o Pedro: nós, progressistas, conhecedores de coisas e pessoas interessantes, temos um irmão bastardo que não queremos assumir. Quem é ele? Justamente os antiprogressistas que, como nós, buscam se distinguir como conhecedores de algo — cito Pedro: “gente especial por causa daquilo que leu, ouviu dizer, as ideias que defende”[6]; enfim, a crença num ideal de cultura no sentido moderno do termo. A semelhança não termina aí. Há mais uma coisa que nos aproxima desse irmão que não pedimos: justamente a questão de classe. Um lado como o outro pode, em geral, pintar o sete que nada acontece. Estamos dentro do pacto civil. Não à toa, Olavo de Carvalho, o principal intelectual do bolsonarismo, pintou todas e nada aconteceu — um “micróbio maldito” teve que levá-lo desta para outra, a esta altura não sei se para um lugar melhor ou pior.
Pelo mesmo privilégio de classe compartilhado pelos progressistas, o antiprogressismo se insurge, jogando na nossa fuça que — aqui cito Pedro — “a tradição progressista não é sustentada por seu valor intrínseco; seu monopólio pode ser destruído facilmente por um monte de autodidatas [os inimigos da Marilena Chauí] com celulares mais ou menos baratos e uma certa quantidade de tempo e conexão”.[7] Vejam vocês: por que diabos, nessa grande guerra entre progressistas e anti-progressistas, estes têm levado a melhor, e não nós? Segundo nosso amigo aqui, para além do lado dito populista da estética bolsonarista — que joga com o vocabulário forçosamente escrachado, por vezes rude — há o tensionamento das contradições e limites da civilização moderna que nós, mais uma vez, tentamos fazer o quê? Resolver positivamente. Uns insistindo numa democracia que nunca existiu, outros numa crença na cultura, ou no desejo de vanguarda (sic) que guarda um certo parentesco com aquele processo de formação cultural, interessante, importante – afinal, mobilizou muitas interpretações, no cinema, no teatro, na filosofia – mas absolutamente restrito e problemático desde sua origem.
Observem que estando dentro desse cercadinho privilegiado, os antiprogressistas conseguem mobilizar, do lado de fora — onde a gente comum sempre esteve — uma certa verdade. Insistindo em achar que a verdade está do nosso lado, permanecemos cegos. Sabendo da falsidade disso e apostando no conhecido “cada um por si”, que atravessa a história da população deste país, os antiprogressistas — adoradores das instituições modernas, como os bancos, a polícia — decidem então virar a mesa com as cartas do jogo e tudo o mais, para o lugar mais longe possível, pois sabem que, em geral, não serão prejudicados.
Notem, portanto, que a linguagem da destruição, à qual a extrema-direita constantemente recorre — destacada por Pedro, mas também por outros como Miguel Lago[8] — assenta-se justamente na percepção das contradições e limites da civilização moderna, que há muito transformou o desenvolvimento das forças produtivas em forças destrutivas. Essa gente sabe muito bem que, sem os mesmos governos progressistas — nos quais não titubeamos em votar de quatro em quatro anos — não teríamos acesso à cultura tal qual a imaginamos e que, portanto, já teríamos “dançado”, como disse certa vez Fernando Henrique sobre os “inempregáveis”. Vejam vocês que, nesse lance da cultura, parece que não nos damos conta de que — aqui cito Pedro — “as pessoas comuns, historicamente arrastadas para dentro da civilização a contragosto, só ocasionalmente podem perceber se existem ou inexistem políticas públicas para a cultura”.[9] Mas fingimos que não. Todo esse “acúmulo cultural” ou processo social edificante e que esteve materialmente ligado à “expansão capitalista” de que falava Chico (com a interdição que se sabe desde o Golpe de 64), não existe mais. Daí porque em negação ou por simples mania, seguimos insistindo em valores modernos como o individualismo, o materialismo, as evidências científicas, o ateísmo militante e letrado[10] — ou na cultura como destaquei aqui, práticas estas às voltas de um horroroso pacto civil oligárquico, hoje em crise, e que sempre se lixou para o que as pessoas verdadeiramente comuns pensam, sonham e desejam. Saberíamos, a esta altura, usar alguns óculos que não este? Se isso fosse possível, quais seriam os termos mobilizados? Acho que é um pouco isso que o livro e em especial esse posfácio que o Pedro escreveu nos leva a pensar.
[1] Doutoranda em Filosofia no PPGFIL-UERJ.
[2] Cf: Pedro Rocha, Discurso filosófico da acumulação primitiva: estudo sobre as origens do pensamento moderno, Elefante, 2025, p. 19.
[3] Cf: Pedro Rocha, Discurso filosófico da acumulação primitiva: estudo sobre as origens do pensamento moderno, Elefante, 2025, p. 462.
[4] Este resumo sobre alguns dos intelectuais que se empenharam neste processo de Formação é, como se sabe, de Roberto Schwarz em seu ensaio: Os sete fôlegos de um livro, presente no livro Sequências Brasileiras, 1999. p. 46-58
[5] Ibidem, p. 57 – os grifos são meus.
[6] Cf: Pedro Rocha, Discurso filosófico da acumulação primitiva: estudo sobre as origens do pensamento moderno, Elefante, 2025, p. 466.
[7] Ibidem, p. 476. Parênteses meu.
[8] Cf: Miguel Lago, Como explicar a resiliência de Bolsonaro? Linguagem da destruição: a democracia brasileira em crise. Companhia das Letras, 2022. p.19-67
[9] Cf: Pedro Rocha, Discurso filosófico da acumulação primitiva: estudo sobre as origens do pensamento moderno, Elefante, 2025, p. 479.
[10] Ibidem, p. 67.
Revisão Wesley Sousa