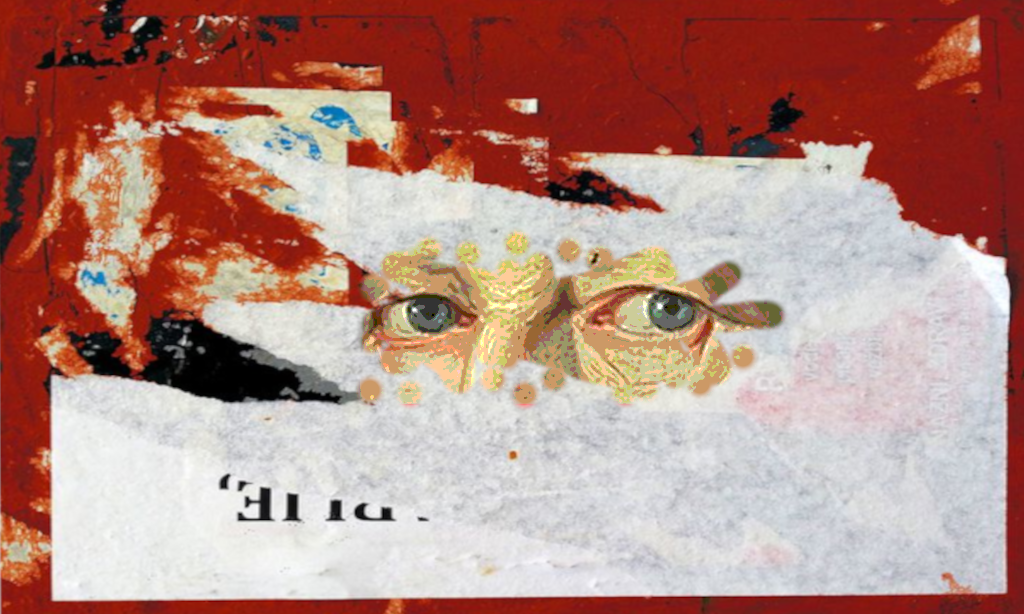Por Slavoj Žižek
O ponto que quero defender é o de que Hegel é o filósofo mais aberto ao futuro, precisamente porque ele proíbe explicitamente qualquer projeto que diga como o nosso futuro deve parecer. Como ele diz ao fim do prefácio de sua Filosofia do Direito (1820), a filosofia só consegue pintar “cinza no cinza”, e “a coruja de Minerva apenas alça seu voo ao cair do crepúsculo”. Isto é, a filosofia só traduz retrospectivamente, num esquema conceitual “cinza” (sem vida), uma forma de vida que já atingiu seu pico e entrou em declínio – que está se tornando “cinza” ela mesma. Para colocar de forma curta e grossa, este é o porquê devemos rejeitar todas essas leituras de Hegel que veem em seu pensamento um modelo implícito de uma sociedade futura reconciliada consigo mesma, deixando para trás as alienações da modernidade. Chamo os que fazem essa leitura de ‘ainda-não-hegelianos’.
Com sua mais recente obra-prima, The Spirit of Trust (2019), o filósofo estadunidense Robert Brandom se firmou como talvez o mais proeminente “ainda-não-hegeliano”. Para ele, Hegel traça um ideal que ainda não alcançamos:
A principal e mais positiva lição prática da análise de Hegel sobre a natureza da modernidade – fruto de sua compreensão do Único Grande Evento na história da humanidade – é que, se digerirmos adequadamente as conquistas e fracassos da modernidade, podemos construir sobre eles novas e melhores instituições, práticas e egos autoconscientes – os quais são normativamente superiores, pois incorporam uma maior autoconsciência, uma compreensão mais aprofundada do tipo de ser que somos. (BRANDOM, 2019, p.456)
Nessa linha, Brandom propõe três estágios de desenvolvimento ético histórico. No Estágio Um – das sociedades tradicionais – temos o Sittlichkeit (um termo hegeliano que significa uma ordem moral costumeira aceita como um fato da natureza), mas nenhuma subjetividade no sentido moderno (ou, como poderíamos chamá-la, individualidade). No Estágio Dois, temos a alienação: a subjetividade moderna ganha sua liberdade, mas é alienada dos fundamentos éticos de sua sociedade. Finalmente, no Estágio Três, que aparentemente está no horizonte, temos uma nova forma de Sittlichkeit, compatível com a subjetividade livre:
Enquanto escrevia a Fenomenologia, Hegel vê o Geist [o Espírito do Mundo] começando a se consolidar no Estágio Dois. O objetivo da obra é possibilitar aos leitores a forma pós-moderna de autoconsciência que Hegel chama de “Conhecimento Absoluto” e, assim, começar a inaugurar o Estágio Três. A nova forma de autoconsciência explicitamente filosófica é apenas o começo do processo, porque novas práticas e instituições também serão necessárias para superar a alienação estrutural da vida moderna (BRANDOM, 2019, p.458).
Sério? Então, o que dizer da insistência de Hegel de que a filosofia só pode pintar “cinza sobre cinza”, dado que, como a coruja de Minerva, só alça seu voo ao cair do crepúsculo – significando que a filosofia só pode entender a história depois dela ter acontecido? Aqui, Brandom fala, não como Hegel, mas como Marx: Saber Absoluto é para ele como o canto de um galo gaulês no novo amanhecer (como disse Marx sobre o pensamento revolucionário). Ele inaugura uma nova era social, quando “novas práticas e instituições também serão necessárias para superar a alienação estrutural da vida moderna”.
Os três estágios de Brandom são gerados ao longo de dois eixos: Sittlichkeit ou não-Sittlichkeit e livre subjetividade moderna ou não-subjetividade. Isso dá a sociedade tradicional (Sittlichkeit sem subjetividade livre), a sociedade moderna (subjetividade livre sem Sittlichkeit) e a sociedade pós-moderna vindoura (Sittlichkeit com subjetividade livre). Brandom imediatamente levanta a questão do status da quarta possibilidade, que não se encaixa em nenhum desses três estágios: a situação sem Sittlichkeit e sem subjetividade livre. Ele pergunta: “O que há de errado com a ideia de alienação pré-moderna?” (BRANDOM, 2019, p.458).
Mas por que ele lê automaticamente a ausência de subjetividade livre como “pré-moderna”? E quanto a uma opção propriamente pós-moderna de perder a subjetividade livre e, ainda assim, permanecer alienado pela moralidade da sociedade? Não é disso que se trata o totalitarismo? E não é este também o estado de que nos aproximamos com nosso autoritarismo digital? Não seria este um verdadeiro insight hegeliano sobre uma dialética da modernidade? Queremos superar a lacuna entre a moralidade de uma sociedade e uma subjetividade livre que não reconhece mais tal moralidade como sua; mas em vez de reuni-las em uma espécie de unidade sintética superior, perdemos ambas. Por exemplo, Stalin não prometeu implementar uma síntese entre um forte espírito comunitário e individualidade livre, prometendo liberdade real? E não foi o resultado a própria perda da liberdade, numa condição de total alienação?
OFENSA E PERDÃO
Brandom vê a chave para o Terceiro Estágio da sociedade – livre subjetividade integrada com a moralidade – na noção de “recordação que perdoa” implantada por Hegel no final do capítulo sobre o Espírito em sua Fenomenologia do Espírito (1807). A lacuna que aliena o sujeito atuante de seu “juiz severo” é superada através da reconciliação, alcançada não só através do agente que confessa seu pecado como também através do juiz que confessa sua participação naquilo que condena, pois, como diz Hegel, “O mal também é o olhar que vê o mal em toda parte”.
A noção de Brandom de “recordação que perdoa” é especialmente útil hoje. Permite-nos ver o que é falso em alguns dos que defendem a “tolerância” e rejeitam o “discurso de ódio”. Uma pessoa politicamente correta que condena severamente aqueles que são acusados de praticar “discurso de ódio” não é um caso contemporâneo exemplar de um julgamento moral rígido? Todos nós sabemos como esses julgamentos podem ser repentinos e cruéis – uma palavra errada, uma piada considerada inapropriada, e sua carreira pode ficar em ruínas. Lembre-se do que aconteceu recentemente com o crítico de cinema David Edelstein. A propósito da morte do diretor Bernardo Bertolucci, que gravou O Último Tango em Paris, Edelstein fez uma piada de mau-gosto em sua página privada no Facebook, acompanhada por uma imagem da cena mais notória do filme com Maria Schneider e Marlon Brando. Ele rapidamente apagou a postagem – antes mesmo do clamor público explodir, e não como uma reação a ele! Mas a atriz Martha Plimpton imediatamente tuitou para seus seguidores: “Demitam-no. Imediatamente.” – e foi o que aconteceu no dia seguinte: Fresh Air e NPR anunciaram que estavam cortando laços com Edelstein porque sua postagem tinha sido “ofensiva e inaceitável, especialmente dada a experiência de Maria Schneider durante as filmagens de O Último Tango em Paris.”
Então, quais são as consequências (ou melhor, quais as regras não escritas a serem compreendidas a partir) desse incidente? Laura Kipnis observa que, primeiro, “não há imprudência no que diz respeito a uma ofensa imprudente” (The Guardian 22/12/18). Noutras palavras, esses atos não podem ser perdoados como sendo fruto de erros momentâneos; em vez disso, devem ser tratados como reveladores da verdadeira face do ofensor. E é por causa disso que, ao fazer uma ofensa dessas, você fica permanente marcado, por mais que peça perdão: “Um fracasso e você está fora. Uma postagem impensada nas redes sociais irá prevalecer sobre um histórico de 16 anos.” A única coisa que pode ajudar é um longo processo de autoavaliação e autocrítica: “Fracassar em re-provar tais atitudes te implica em crimes contra as mulheres”. Você tem que provar isso repetidas vezes, já que, como homem, você não é a priori confiável (“homens dirão qualquer coisa”).
O que a “recordação que perdoa” significaria aqui? Os acusadores não teriam apenas que perdoar o agressor pelo ato de “discurso de ódio” pelo qual foi responsável; eles também devem confessar e renunciar ao seu próprio ódio. E é fácil de enxergar este grande ódio nas tais exigências, inexoravelmente politicamente corretas, de punição rápida – neste caso, há definitivamente mais ódio do que no próprio ato condenado. Uma paráfrase da frase de Hegel sobre o Mal se encaixa perfeitamente aqui: “O ódio reside no olhar que reconhece o ódio em todos os lugares”.
Definitivamente, muito do discurso de ódio são exibições de arrogância condescendente, de ironia brutal e assim por diante, mas apenas muito raramente se trata só de puro ódio. E é sob esse pano de fundo que as duras condenações politicamente corretas acabam por interpretar mal suas próprias ações, pensando-as como um exercício bem fundamentado de justiça. Tais condenações não se preocupam em reconstruir o raciocínio que norteou a ação do agressor. Edelstein, por exemplo, talvez enxergasse sua postagem no Facebook como uma piada de mau gosto, mas não ofensiva. Isso significa que temos uma dualidade: de como as coisas eram para a consciência do ofensor e como eram “em si mesmas” – ou seja, aos olhos do juiz ou da pessoa ofendida. A mesma lacuna também está em ação na própria condenação da juíza politicamente correta, embora aqui seja uma lacuna entre como as coisas são representadas para a consciência dela (“Estou apenas fazendo um julgamento justo”) e como eles são “em si” (uma manifestação de ódio que visa a destruir a vida ou carreira do agressor).
Peguemos outro exemplo. Em dezembro de 2016, ao saber da morte repentina de Carrie Fisher, Steve Martin tuitou: “Quando eu era jovem, Carrie Fisher era a criatura mais linda que eu já tinha visto. E ela se demostrou espirituosa e brilhante também.” Houve uma reação imediata. Martin foi acusado de “objetificar” Fisher, de focar em seus aspectos físicos em vez de em seus talentos ou impacto – um usuário no Twitter respondeu: “Acho que ela gostaria de ser lembrada por algo além da beleza. Como você quer ser lembrado?” Então Martin excluiu seu tweet… Mas é fácil reconstruir o raciocínio de Martin aqui: ele queria mostrar seu respeito por Fisher além de sua beleza: ele situa seu fascínio pela beleza de Fisher em seus primeiros encontros, depois dos quais ela imediatamente se torna “espirituosa e brilhante” – o ponto central de seu tweet é de que ela era mais do que apenas bonita. Uma postura “que recorda com perdão” iria repreendê-lo por não ter levado em conta o efeito de seu tweet, mas ainda assim o perdoaria, exigindo-lhe apenas que “suprassumisse” (um termo hegeliano) sua homenagem a Fisher formulando-a de uma forma mais apropriada. Nada disso acontece na rápida condenação que vê no tweet em questão apenas uma objetificação machista-chauvinista das mulheres.
OS LIMITES DO PERDÃO
Entretanto, existem limites claros para a noção de recordação que perdoa. Sendo mais uma vez curto e grosso: podemos “perdoar recordativamente” Hitler? E se a resposta for não, é porque Hitler não pode ser perdoado, ou porque nós ainda não estamos num nível tão elevado de reflexão ética para fazê-lo? A única maneira de fazer isso sem regressar à posição de uma “bela alma” que julga de uma posição apartada e desinteressada é endossar a segunda opção – que o nosso castigo dado a Hitler, que o coloca como uma pessoa má, deve ser uma determinação reflexiva do mal que persiste em nós mesmos – isto é, mostra o estado não-reflexivo da posição a partir da qual fazemos julgamentos.
Notemos que muitos revisionistas de extrema-direita hoje tentam decretar um perdão recordativo de Hitler. Sim, dizem eles, Hitler incorreu em diversos erros terríveis; cometeu crimes horríveis; mas, ao fazer isso, ele só estava, no final das contas, lutando por uma boa causa (contra a corrupção capitalista encarnada nos judeus), embora de forma errada. Revisionistas também tentam balancear a responsabilidade de um jeito pseudo-hegeliano: não teriam os crimes de Hitler sido refletidos na unilateralidade da posição judaica – sua postura antissocial, sua falta de vontade em integrar-se à nação alemã? No entanto, é fácil construir uma versão mais racional, não-direitista-revisionista de como nós, que condenamos o nazismo, também devemos pedir perdão pelo mal em nossa própria perspectiva. Por exemplo, “O antissemitismo não era limitado apenas à Alemanha, mas era bem presente nas nações que estavam em guerra com a Alemanha, inclusive nas nossas”; ou, “a óbvia injustiça do tratado de Versalhes – um ato de vingança contra os alemães derrotados na primeira guerra mundial – contribuiu para a ascensão dos nazistas ao poder”; ou, num nível mais geral, “o fascismo surgiu das dinâmicas e antagonismos do capitalismo ocidental”. Embora devamos rejeitar totalmente essa linha de raciocínio, a solução definitivamente não é traçar uma linha entre os pecados que podem ser recordativamente perdoados e os pecados que são grandes demais para serem perdoados. Tal procedimento introduz uma dualidade totalmente em desacordo com a abordagem de Hegel. O que devemos fazer, em vez disso, é mudar a própria noção de perdão recordativo: privar tal noção de quaisquer ecos provocados pelo “você está perdoado, você não é mais realmente mau”.
Brandom, é claro, levanta esse problema:
Algumas coisas feitas pelas pessoas nos atingem e, mesmo após a devida reflexão, são simplesmente imperdoáveis. Nesses casos, embora possamos tentar mitigar as consequências das más ações, não temos a menor ideia de como discernir o surgimento de uma norma governante que poderíamos endossar. (BRANDOM, 2019, p. 716)
E sua resposta imediata é:
Mas, agora, devemos perguntar: de quem é essa culpa que faz do feito, ou algum aspecto dele, ser imperdoável – do que fez ou do que perdoou? A falha é do mau agente ou do mau recordador? A culpa de alguém é uma questão que concerne ao modo como as coisas simplesmente são? Ou é, pelo menos em parte, reflexo do fracasso do recordador em apresentar uma narrativa mais sensível às normas? (BRANDOM, 2019, p.716)
Mas, mais uma vez, no caso do Holocausto, nós devemos “reconhecer pelo menos igual responsabilidade da parte do fracasso daquele que perdoa” (BRANDOM, 2019, p. 717)? E deveríamos também afirmar com Brandom que “é preciso confiar que essa falha recordativo-recognitiva – como a falha que envolve o agente original, perdoado de forma inadequada – também será perdoada com mais sucesso por futuros avaliadores (que saberão mais e serão melhores nisso)” (BRANDOM, 2019, p.718)? Além disso, o que dizer de casos como o de mutilação genital feminina, tortura, ou escravidão, que hoje experimentamos com horror, mas para os quais é fácil reconstruir o pensamento que torna essas coisas aceitáveis não apenas para aqueles que as praticam, mas às vezes até para suas vítimas? E o que dizer dos casos em que a visão retroativa torna as ações mais inaceitáveis do que eram em seu contexto original? Se julgarmos severamente esses casos, não apenas criamos novas normas e as impomos aos atos passados, e, em certo sentido, também descobrimos que tais atos foram sempre inaceitáveis, mesmo que parecessem aceitáveis para aqueles que os praticaram. A escravidão é um óbvio exemplo onde isso se aplica.
Vamos pegar mais uma vez o exemplo de Hitler e o Holocausto. A forma de se lidar com isso talvez esteja indicada na história bíblica do profeta Habacuque, a expressão mais pungente do que se poderia chamar de “o silêncio dos deuses” - da grande questão dirigida a Deus a partir de Jó: “Onde você estava quando aquele horror aconteceu? Por que você ficou em silêncio, por que não interveio?” Aqui estão as palavras da reclamação de Habacuque:
Até quando, Senhor, implorarei sem que escuteis? Até quando vos clamarei: “Violência!” sem que venhais em socorro? Por que me mostrais a injustiça? Por que tolerais o malfazer? Só vejo diante de mim opressão e violência, nada mais que discórdias e contendas, porque a Lei se acha desacreditada, e a justiça nunca prevalece; porque o ímpio cerca aquele que é correto, e a justiça encontra-se falseada. (Habacuque, 1)
Como Deus responde? Deve-se ler a resposta com muito cuidado: “Olhe para as nações e observe – e fique totalmente maravilhado. Pois vou fazer algo em seu tempo que você não acreditaria, mesmo que lhe dissessem.” Isso não é uma simples justificativa “teleológica” no estilo de “Seja paciente; estranhos são os caminhos do Senhor; seu sofrimento serve a um propósito no plano divino mais amplo que você não pode compreender do seu ponto de vista estreito e finito.” Na verdade, de uma perspectiva cristã, dizer que o Holocausto (ou sofrimento semelhante) serve a algum propósito superior desconhecido para nós, é uma obscenidade anticristã, uma vez que o ponto da compaixão de Cristo é a solidariedade incondicional com aqueles que sofrem. Em vez disso, para usar a expressão de Giorgio Agamben, deve-se reunir aqui uma total “coragem da desesperança”. Então, qual o significado de nós termos de ficar “totalmente maravilhados” e que acontecerá algo em que nós não iremos acreditar, mesmo que nos dissessem? O inacreditável é plausivelmente o retorno dos judeus à Terra Prometida, o que, poderíamos supor, não teria acontecido sem o Holocausto. Talvez, então, Hitler só pudesse ser retroativamente perdoado a partir da referência à existência de Israel, cuja criação só se deu pelos crimes que ele cometeu. Mas, mais uma vez, é preciso ser muito preciso aqui: isso de forma alguma justifica o Holocausto como “o sacrifício que o povo judeu precisava para pagar pelo retorno à sua terra” (a tese de alguns antissemitas); nem é a alegação de que o Holocausto era parte de um plano divino secreto para tornar possível o retorno dos judeus à sua terra natal (a tese de alguns outros antissemitas). Isso só significa que a fundação de Israel foi uma consequência inesperada do Holocausto e, além disso, não diz nada diz sobre outras injustiças que resultaram desse conjunto de atos. Por exemplo, a terra para a qual os judeus retornaram há muito tempo é habitada por outras pessoas e não pode ser simplesmente designada como “deles”.
A principal armadilha a ser evitada aqui é a de uma teleologia holística. Essa é a ideia de que algo que nos surge como um horror pode, de uma perspectiva mais ampla, ser um elemento que contribui para a harmonia global, da mesma forma que uma mancha em uma grande pintura contribui para sua beleza se olharmos para a pintura de uma distância adequada. O legado de Jó, que não recebeu de Deus uma explicação para seu sofrimento, nos proíbe de nos refugiarmos no senso comum de um Deus transcendente como um Mestre secreto que conhece o significado daquilo que nos parece ser uma catástrofe sem sentido – o Deus que vê a imagem inteira, na qual o que percebemos como uma mancha contribui para a harmonia global. Quando confrontado com um evento como o Holocausto, ou a morte mais recente de milhões no Congo, não é obsceno afirmar que essas manchas contribuem para a harmonia do Todo? Pode haver um Todo que possa justificar e, assim, redimir um evento como o Holocausto? A morte de Cristo na cruz significa, em vez disso, que se deve abandonar sem restrições a noção de Deus como um zelador transcendente que garante o feliz resultado de nossos atos – a garantia da teleologia holística. A morte de Cristo na cruz é a morte desse Deus. Na verdade, o que se repete é a conclusão de Jó, recusando qualquer “significado mais profundo” que ofusque a realidade brutal das catástrofes. Mesmo uma versão mais forte dessa lógica – a ideia de que perdoar não significa o apagamento do conteúdo particular, mas o reconhecimento de que aquele conteúdo particular é necessário para a atualização do bem universal – não é forte o suficiente.
ANALISANDO O PASSADO
O perdão recordativo continua sendo uma noção ambígua. Na esfera ética, pode ser lido como “tentativa de entender o que nos aparece como o mal” – isto é, reconstruir uma motivação positiva oculta que foi expressada de forma pervertida. No entanto, a retroatividade implica uma dimensão muito mais radical de contingência: que as coisas não são o que são, são o que “terão sido”. Sua verdade é decidida depois de acontecer:
O perdão concreto e prático envolve fazer coisas para mudar quais serão as consequências do ato. Por exemplo, pode-se confiar que seus sucessores farão com que a revelação inadvertida, o sacrifício de alguém ou a decisão de ir para a guerra valham a pena, por causa daquilo a que acabaram levando – por causa do que fizemos disso fazendo, depois, as coisas de forma diferente. Algo que fiz não deve ser tratado como um erro ou um crime, como faz o juiz de coração duro, porque o que fiz ainda não está decidido. As ações subsequentes dos outros podem afetar as consequências e, portanto, o conteúdo do que fiz. O julgamento de coração duro pressupõe de forma errônea que a ação é uma coisa acabada, situada no tempo completamente formada, como um possível objeto de avaliação independente do que é feito mais tarde … o papel de um determinado evento no plano em evolução depende do que mais acontece. (The Spirit of Trust, p.602)
No nível dos fatos imediatos, as coisas são o que são. No Holocausto, milhões morreram. Nada pode mudar isso retroativamente. O passado só pode ser mudado no nível de sua mediação simbólica – o que significa para as pessoas que pensam sobre ele. Mas aqui as coisas ficam complicadas. O que falar do caso evocado pelo próprio Hegel, em que um agente atua com as melhores intenções, mas as consequências imprevisíveis são catastróficas? Como o perdão recordativo funciona aqui? O juiz pode forjar um perdão parcial provando que a consequência mais provável teria sido benevolente, e que a catástrofe se deu devido aos acidentes imprevisíveis? E se introduzirmos um terceiro nível no topo da dualidade de minha intenção subjetiva ao realizar um ato e o resultado real de meu ato – as motivações inconscientes? Este terceiro nível não deve, de forma alguma, ser limitado a considerar motivos de base como a verdade oculta dos motivos nobres professados publicamente – por exemplo, quando uma pessoa que afirma realizar um ato por senso de dever enquanto que, na verdade, a motivação fora a vingança – ela também deveria incluir o caso oposto – por exemplo, embora eu achasse que agia por alguma inclinação patológica particular, um senso mais profundo de justiça realmente me motivou.
Se admitirmos que o significado real de um ato é o que “terá sido”, tocamos aqui um nervo paradoxal da moralidade, que foi batizado por Bernard Williams de “sorte moral” (WILLIAMS, 1981). Williams evoca o caso do pintor Gauguin, que deixou esposa e filhos e mudou-se para o Taiti para desenvolver seu gênio artístico. Ele tinha justificativa moral para fazer isso, ou não? A resposta de Williams é que só podemos responder a essa pergunta retrospectivamente, depois de sabermos o resultado de sua decisão arriscada: ele se tornou um artista genial, ou não?
O mesmo vale para Immanuel Kant e o status legal da rebelião: a proposição, “o que os rebeldes estão fazendo é um crime que merece ser punido” é verdadeira se pronunciada enquanto a rebelião ainda acontece; mas uma vez que a rebelião vence e estabelece uma nova ordem legal, esta afirmação sobre o estatuto jurídico do mesmo ato, que agora pertence ao passado, já não vale mais.
Aqui está a resposta de Kant à pergunta: “A rebelião é um meio legítimo para um povo se livrar do jugo de um suposto tirano?”:
Nenhuma injustiça recai sobre o tirano quando ele é deposto. Disso, não há dúvida. Contudo, é ilegítimo no mais alto grau que os súditos busquem seu direito dessa forma. Se eles forem subjugados nesse conflito e tiverem depois disso de sofrer a mais dura pena, não poderão reclamar mais de injustiça que o tirano poderia se tivessem sido bem-sucedidos. (KANT, 1795, p.4).
Kant não oferece aqui sua própria versão de “sorte moral”, ou, melhor, “sorte legal”? O status legal de uma rebelião é decidido retroativamente: se uma rebelião tem sucesso e estabelece uma nova ordem jurídica, então ela cria seu próprio círculo vicioso: apaga no vazio suas próprias origens ilegais ao decretar o paradoxo de fundar-se retroativamente. Kant afirma esse paradoxo ainda mais claramente algumas páginas antes, onde escreve: “Se uma revolução violenta, produzida por uma constituição ruim, introduzisse por meios ilegítimos uma constituição mais conforme à lei, levar o povo de volta à constituição anterior não seria permitido; mas, enquanto durou a revolução, cada pessoa que a apoiou abertamente ou secretamente teria incorrido com justiça na punição devida àqueles que se rebelaram.” Não poderia ser mais claro: o estatuto jurídico de um mesmo ato muda com o tempo, e o que é, enquanto prossegue a rebelião, crime punível, torna-se, depois de instituída uma nova ordem jurídica, o seu oposto. Mais precisamente, o crime simplesmente desaparece, como um mediador evanescente que em seu resultado se apaga retroativamente.
Tais interpretações retroativas acontecem consistentemente na esfera da ordem simbólica. Quando digo ou faço algo, minhas palavras ou atos nunca expressam apenas minha intenção interior. Em vez disso, seu significado é decidido retroativamente, por meio de sua incorporação no grande Outro. A história de Italo Calvino, “Una Bella Giornata di Marzo” (1993) se concentra nas consequências não intencionais do ato de matar Júlio César. Embora os conspiradores quisessem matar um tirano e, assim, restaurar Roma à sua glória republicana, seu ato abole as próprias condições que sustentavam o significado do que pretendiam. Como Molly Rothenberg escreve:
O próprio mundo em que fazia sentido se livrar de César também desaparece com aqueles golpes de adaga – não porque César mantinha esse mundo unido, mas porque os assassinos não podiam prever que seu ato também transformaria a maneira como o ato seria julgado. Eles não podiam levar em consideração a historicidade de sua ação: nem eles nem ninguém poderia prever ou decidir como o futuro interpretaria o assassinato. Dito de outra forma, poderíamos dizer que simplesmente não havia como eles levarem em consideração o “efeito retroverso” de interpretações futuras (ROTHENBERG, 2010, p.7).
Tomemos um caso extremo de “recordação que perdoa” (sem muito perdão – e com uma maior atribuição retroativa de responsabilidade e culpa). Alguém faz a observação perspicaz de que a maior parte do sexo, até por volta do início ou mesmo meados do século XX, seria considerada estupro pelos padrões de hoje – e diz que este é um sinal definitivo de algum tipo de progresso …
O que encontramos aqui é o ponto-chave do Simbólico: ele expõe a “abertura” fundamental que o Simbólico introduz na realidade. Em outras palavras, uma vez que entramos no Simbólico, as coisas nunca simplesmente são, todas elas “terão sido”: elas, por assim dizer, emprestam parte de seu ser do futuro. Essa descentralização introduz uma contingência irredutível. Não há nenhuma teleologia mais profunda em ação aqui, nenhum poder secreto que garanta um resultado feliz.
Devido ao seu conhecimento de Hegel, Brandom tem que admitir este aspecto retrospectivo da natureza do progresso histórico: “A progressão é retrospectivamente necessária. Não é o caso de que um determinado estágio não pudesse ter evoluído de outra maneira senão para produzir o que aparece como seu sucessor. Em vez disso, esse sucessor (e, em última análise, a concepção final – até agora – triunfante e culminante) não poderia ter surgido, exceto como um desenvolvimento das anteriores. A necessidade é sempre retrospectiva em Hegel: a Coruja de Minerva apenas alça seu voo ao cair do crepúsculo” (BRANDOM, 2019, p.608). Até aqui, tudo bem. Mas Brandom continua: “A passagem termina com a manifestação de confiança de Hegel: ele convoca a próxima geração a fazer por seu tempo o que ele fez pelo seu: assumir o encargo, que perdoa à medida que recorda, de formular uma explicação que produza uma história racional.”
Acho este salto para o futuro, esta fé no progresso, algo totalmente injustificado e em desacordo com a postura metafísica básica de Hegel. Por quê? Porque implica uma lacuna entre dois níveis: entre o pensamento real de Hegel (restrito ao conhecimento de seu tempo; pintar cinza sobre cinza), e uma visão que localiza o pensamento de Hegel em uma série progressiva – que Brandom denomina um “ciclo cognitivo de confissão, confiança e perdão recordativo, seguido da confissão da inadequação desse perdão e confiança no perdão subsequente dessa falha” (BRANDOM, 2019, p.610). E o que Hegel fez por todo o passado até seu tempo (“recordando-o” em uma totalidade racional), o próprio Brandom tenta fazer com Hegel (parafraseando seu pensamento em termos contemporâneos, etc.); e ele convida seus futuros leitores a fazerem o mesmo com seu trabalho. Estamos de volta ao que Hegel chamou de “infinidade espúria”.
Há ainda outra inconsistência. Se a necessidade histórica é sempre retrospectiva, o que legitima Brandom a ler a ideia de Hegel de Saber Absoluto como indo muito além de “pintar cinza sobre cinza” e apontando para um futuro social emancipado além dos antagonismos da modernidade alienada – para o que Brandom chama de “Terceira Fase”? Ele diz: “A surpreendente aspiração de Hegel é… guiar-nos para uma nova era do Geist, cuja estrutura normativa é tanto uma melhoria sobre o moderno quanto o moderno foi sobre o tradicional” (BRANDOM, 2019, p.614). Mas não seria um movimento hegeliano adequado, ao invés disso, precisamente deixar o espaço aberto para uma compreensão retroativa de que este futuro (mais) brilhante, esta Terceira Fase, traz novos antagonismos e formas de violência imprevisíveis? Além disso, e se devêssemos ser perdoados exatamente por isso – pela esperança ilusória de que podemos fazer mais do que apenas “pintar cinza sobre cinza” e, em vez disso, delinear os contornos básicos de uma nova época futura de plena emancipação, onde o progresso continuará? Não estaria muito mais no espírito de Hegel pressupor que essa fase também irá de alguma forma dar terrivelmente errado, como aconteceu com o fascismo, o stalinismo e assim por diante? Por exemplo, não é suficiente jogar o jogo usual de como a nobre visão de Marx foi mal utilizada e de como ele não deve ser responsabilizado por esse uso indevido. Em vez disso, aquilo que precisa ser “perdoado” em Marx é que ele permaneceu cego para como sua visão do comunismo poderia inspirar novas formas de opressão e terror.
CONCLUSÃO
Então, para concluir: não deveríamos virar de cabeça para baixo a ideia principal de Brandom do “espírito da confiança”? A característica mais profunda de uma verdadeira abordagem hegeliana não é um espírito da desconfiança? Ou seja, o axioma básico de Hegel não parte da premissa teleológica holística de que, não importando o quão terrível seja um evento, no final ele acabará por contribuir para a harmonia geral do mundo e da história. Em vez disso, seu axioma é que não importa o quão bem planejado e bem intencionado seja uma ideia ou projeto, ele de alguma forma dará errado: a comunidade orgânica grega da polis se transforma em guerra fraterna; a fidelidade medieval baseada na honra se transforma em bajulação vazia; a luta revolucionária pela liberdade universal se transforma em terror. O que Hegel quer dizer não é que essa virada ruim poderia ter sido evitada – digamos, se apenas os revolucionários franceses tivessem se limitado a realizar a liberdade concreta para vários estados em vez de tentar realizar a liberdade abstrata e a igualdade para todos, o derramamento de sangue poderia ter sido evitado. Em vez disso, temos que aceitar que não há um caminho direto para a liberdade concreta; que nossa “reconciliação” reside, em vez disso, no fato de que nos resignamos à ameaça permanente de destruição, que é uma condição de nossa liberdade.
A visão de Hegel sobre o Estado é a de uma ordem hierárquica de Estados mantidos juntas pela ameaça permanente de guerra. E se então considerarmos um progresso que vai além disso – em direção a uma democracia liberal pós-hegeliana? É fácil imaginar a alegria com a qual Hegel teria analisado como uma sociedade liberal leva ao fascismo, ou como um projeto emancipatório radical termina no stalinismo. Também teria sido fácil para Hegel apontar como a carnificina inédita da Grande Guerra emergiu como a verdade do progresso pacífico e gradual do século XIX. ESTA, de fato, é nossa tarefa como hegelianos hoje.
Este artigo foi publicado pela primeira vez na edição 140 da Philosophy Now (disponível agora).
This article was first published in Philosophy Now issue 140 (out now)
Esta Tradução compõe o V. 5 n. 9 de 2020 da revista Eleuthería. Link para acesso da revista https://periodicos.ufms.br/index.php/reveleu/issue/view/587
Tradução: Marcus Vinicius Quessada Apolinário Filho
Revisão: Pedro Naccarato e Gérson Pereira Filho
Arte: Felipe Aiello
Original