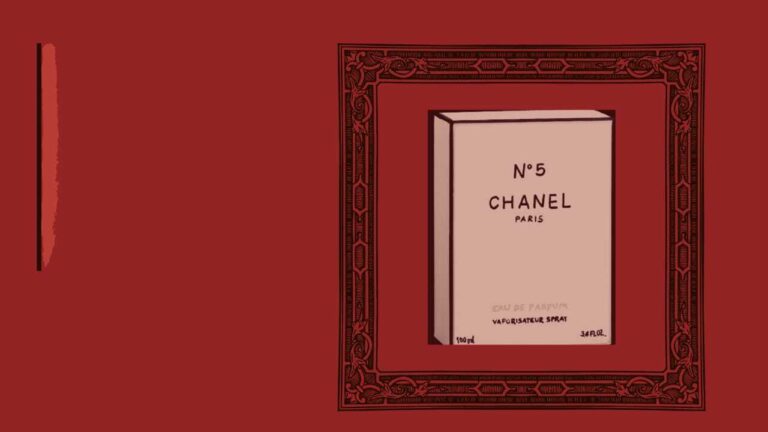Eu gostaria de falar sobre os problemas que circundam o conceito de experiência. Mas vou começar com uma genealogia aceleracionista, partindo da posição que orientou muitos de nós durante os anos 90, Nick Land, o Landianismo. Era um tipo de hiper-Deleuzianismo, um deleuzianismo obscuro, mas um que ainda estava organizado em torno do problema da experiência, penso eu, na teoria de Nick. Podemos traçar isso de volta a Bataille, o tipo de busca impossível pela experiência não apenas em seu máximo de intensidade, mas para além disso, a busca pela experiência de uma posição onde a experiência já não é mais possível; i. e. morte, a morte ela mesma como o limite.
Eu acredito que um dos movimentos cruciais dos últimos anos foi o movimento contra a experiência. Invés de perseguir esse tipo de busca por uma experiência impossível, apontar o contraste entre o cognitivo e o que pode ser experienciado. Então, por assim dizer, a morte — não apenas a morte individual, mas a hiper-morte, e não só o inexperienciavel, mas a evaporação da própria possibilidade de experiência, via extinção ou o que quer que seja — foi contrastada com a experiência enquanto tal. Você não pode experienciar a extinção, e então nós não nos preocupamos mais com isso… em vez disso, a extinção tornou-se um desafio cognitivo e especulativo.
Penso que esse foi um movimento crucial, pois teve consequências sérias para a questão da estética. Posto simplesmente, como alguém pode ter a estética sem a experiência, afinal? Se a estética deve envolver algum tipo de experiência, como podemos pensar sobre o que a experiência é sem relapsar em teorias familiares? Diante disso, a ‘virada especulativa’ tem pouco a oferecer em relação à estética. De alguma forma, a ênfase na realidade independente da mente, seja em seu modo fenomenológico [1] Object-Oriented Ontology ou em sua forma anti-fenomenológica de Ray Brassier, pode ser interpretada como um movimento anti-estética, no sentido em que é uma rejeição decisiva da poética literária da indeterminação desconstrutivista assim como da ontologia dos afetos e intensidades deleuzianas.
Um movimento decisivo — que o separou do antihumanismo aceleracionista de NickLand — foi a rejeição do que Ray, em ‘Genre is Obsolete’, chamou de ‘o mito da experiência’ [2] R. Brassier, ‘Genre is Obsolete’, em Multitudes 28 (Primavera de 2007). Nós podemos entender isso em termos de impasses na teoria dos afetos. Esta foi rapidamente adotada em vários discursos em torno do mundo da arte. E parte da razão pela qual o trabalho de Ray é importante, foi por ter chamado atenção para a forma como a teoria dos afetos é usada como um álibi para todo tipo de discurso anti-proposicional, anti-argumentativo, anti-racional e anti-lúcido. Tornou-se um tipo de esteticismo teórico profundamente tedioso. O louvor às sensações, aos afetos etc., deviram realmente entediantes. Então, para mim, isso é um problema: se queremos a estética, devemos ter a experiência de alguma forma; mas o que nós queremos dizer por experiência, afinal?
Eu acredito que de certa forma isso reencena a velha disputa entre Hume e Kant, com a teoria deleuziana dos afetos como uma forma de retorno à Hume, e a ideia de que você pode ter sensações que não requerem um sujeito como seu fiador. Mas o que eu gostaria de sugerir é uma espécie de retorno ao kantianismo. Não à estética Kantiana, nem à sua metafísica e epistemologia, mas à diferença crucial entre a experiência e as condições de
experiência.
Como Ray perguntou anteriormente, qual o valor do poder alienante das artes no modernismo? É uma experiência que faz questionar a própria experiência. E uma forma de colocar isso seria, então, que se trata de uma experiência capaz de confrontar alguém com as condições de experiência. E para além de Kant, este é o movimento do Idealismo Transcendental para o Materialismo Transcendental, onde a plasticidade chega ao fundo, onde as condições de experiência tornam-se sujeitas a transformação, etc…
A constituição da nossa subjetividade no dia a dia é produto de várias formas de engenharia e manipulação; a realidade em que somos convidados a existir é construída por Relações Públicas e corporações, uma espécie de engenharia informacional libidinal. Eu acredito que isso demanda um tipo de prática de contra-engenharia que deve ser empreendida. Para seguir a partir do ponto de Robin no fim da última discussão, nós estamos assistindo a mutações comportamentais massivas da população humana na última década. Mas estas estão se direcionando a fins completamente banais, como Facebook, smartphones etc. O que estamos assistindo são tics comportamentais que se espalharam por uma população, i.e. encarar a tela, transmissão digital, etc. Tais comportamentos não existiam há dez ou quinze anos; era impossível para eles. Agora eles são onipresentes.
A questão prática, uma questão esquizoanalitica, é se isso é possível apenas sob a rostidade. Você tem uma espécie de mutação desterritorializante aqui onde, embora os comportamentos sejam banais, eles são, não obstante, radicais em termos dos vícios e compulsões que os envolvem. Obviamente as pessoas não fazem isso conscientes de que estão participando desse tipo de vetor mutacional. Fazem com base na psicologia do senso comum. O cérebro e os dedos só podem devir essa espécie de montagem libidinal porque a mente está distraída com tal psicologia. A psicologia do senso comum é um tipo prático da proposição cultural em que vivemos, e eu acredito que uma das coisas mais tristes, uma das maiores misérias do século vinte e um, é o retorno da psicologia do senso comum e o esgotamento das fontes de despersonalização que a cultura já nos ofereceu.
Grande parte da arte contemporânea atingiu um estágio completamente decadente, onde um trabalho típico é radicalmente desprovido de textura estética. Um medo do conteúdo parece exercer um domínio tirânico, motivando ‘trabalhos’ que consistem em textos (pré- e pós-) discursivos banais anexados a objetos super-banais que, no pior dos casos, não desencadeiam nenhum pensamento nem sensação (e esperar os dois é, aparentemente, ser vulgar) e, no melhor dos casos, indiretamente evocam algum processo levemente divertido que leva a sua construção. A justificativa para esse tipo de produção parece ser uma mistura do pior-de-todos-os-mundos que envolve cognitivismo pós-conceitual sem conceitos (que faz a textura estética brega) e a celebração pós-deleuziana da criatividade infinita (que proíbe qualquer negatividade impondo um imperativo afirmativo mandatório — não reclame!).
No entanto, embora a arte contemporânea pareça especialmente esgotada, não é como se outras zonas culturais que nos últimos anos suplantaram as artes visuais como vanguarda do experimentalismo cultural sejam imunes aos processos de inércia que reduziram a arte contemporânea a um vazio aflito. Não houve nenhuma transformação significativa na música eletrônica por volta de uma década, e o melhor que podemos esperar são micro-mudanças incrementais e pastiches sofisticados ao invés de quaisquer sons e/ou sensações novas.
Enquanto isso, a cultura mainstream reduz-se cada vez mais a interioridade psicológica popularesca. Seja na TV ou nas redes sociais, as pessoas vêm sendo capturadas/cativadas por seus próprios reflexos. Tudo é feito de espelhos. Os muitos ataques ao sujeito na teoria nada puderam fazer para resistir a super-personalização da cultura contemporânea. O identitarismo manda. A teoria queer pode reinar na academia, mas isso nada tem feito para parar o retorno deprimente da normatividade de gênero na cultura popular e no dia a dia. Elementos da ‘esquerda’ não apenas conspiram com, mas ativamente organizam esse identitarismo desenfreado, encurralando grupos em ‘comunidades’ definidas de acordo com categorias de poder: uma distopia Foucaultiana.
Então em vez dessa coisa toda sobre música e jogos, da qual Robin estava falando sobre, cada vez mais o tempo cultural está tomando formas que, a nível psicológico, espelham as pessoas de volta a si mesmas sob a forma mais banal de imagem manifesta. A questão agora é se um certo tipo de desrostização deve ser recuperada — se um projeto eliminativista prático, não meramente teórico, pode ser retomado, e se nós podemos retirarmo-nos de nossos rostos novamente.

Clarice Pelotas Rios é graduanda em filosofia pela Universidade de Brasília, estudante de filosofia critica no New Centre for Research and Practice e tradutora. Pesquisa economia libidinal, aceleracionismos e teoria queer.