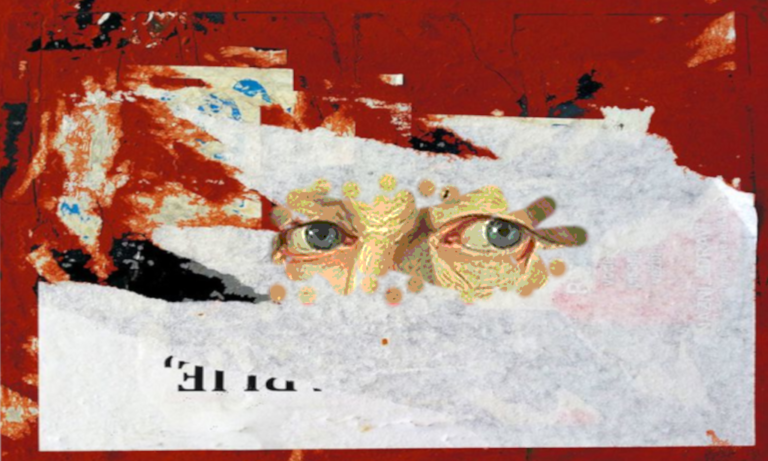Há uma diferença fundamental entre a alienação do sujeito na ordem simbólica e a alienação do trabalhador nas relações sociais capitalistas. Temos que evitar as duas armadilhas simétricas que se abrem se insistirmos na homologia entre as duas alienações: a ideia de que a alienação social capitalista é irredutível, pois a alienação significante é constitutiva da subjetividade, bem como a ideia oposta de que a alienação significante poderia ser abolida da mesma maneira que Marx imaginou a superação da alienação capitalista. O ponto não é que a alienação significante seja mais fundamental e persista mesmo se abolirmos a alienação capitalista; é algo mais refinado. A própria figura de um sujeito que deveria superar a alienação significante e se tornar um agente livre cujo qual é um mestre do universo simbólico, i.e., que não é mais incorporado em uma substância simbólica, apenas pode surgir do espaço da alienação capitalista, o espaço em que indivíduos livres interagem. Vamos indicar o domínio dessa alienação simbólica em relação à tentativa de Robert Brandom em elaborar “o caminho para a forma pós-moderna de reconhecimento que supera a alienação irônica. Essa é a estrutura de reconhecimento recoletiva da verdade”.[1] Para Brandom, isso
Pode ser a parte do pensamento de Hegel que é do interesse e valor filosófico mais contemporâneo. Isso ocorre em parte porque ele atribui um profundo significado político para a substituição do modelo semântico de representação atomística pelo modelo holista de expressão. […] Isso conduz a uma nova forma de reconhecimento mútuo e inaugura o terceiro estágio no desenvolvimento do Espírito: a era da confiança.[2]
“Confiança” é aqui confiança na substância ética (o “grande Outro”, o conjunto das normas estabelecidas) o que não limita, mas sustenta o espaço de nossa liberdade. Referindo a Chomsky, Brandom faz sua própria leitura da distinção clássica entre liberdade negativa e liberdade positiva: liberdade negativa é a liberdade de normas e obrigações predominantes que podem conduzir apenas e uma irônica distância universalizada de todos os regulamentos positivos (não devemos confiar neles; são ilusões mascarando interesses particulares), enquanto a liberdade positiva é a liberdade cujo espaço é aberto e sustentado por nossa adesão a um conjunto de normas. Como Chomsky comprovou, a linguagem permite que um indivíduo que a habite gere um número infinito de frases. Essa é a liberdade de expressão positiva fornecida por nossa aceitação das regras da linguagem, enquanto a liberdade negativa pode apenas conduzir à alienação irônica. Mas essa liberdade da ironia, da distância irônica, também não é uma forma de liberdade positiva baseada em um profundo conhecimento das regras? Algo como alienação irônica não é inerente para aqueles que realmente habitam uma língua?
Vamos pegar o patriotismo. Um verdadeiro patriota não é um entusiasta fanático, mas alguém que muitas vezes pode fazer comentários irônicos sobre sua nação, e essa ironia paradoxalmente atesta seu verdadeiro amor por seu país (quando as coisas ficam sérias, ele já está pronto para lutar por ele). Para ser possível praticar esse tipo de ironia, tenho que controlar as regras da minha linguagem muito mais profundamente do que aqueles que a falam perfeitamente de forma não irônica. É possível dizer que habitar uma linguagem realmente implica não apenas conhecer as regras, mas conhecer as meta-regras que me dizem como violar as regras explícitas: isso não implica em cometer erros, mas em cometer o tipo certo de erro. E o mesmo se aplica para as maneiras que mantêm unidas uma determinada comunidade. Esse é o motivo que, nos velhos tempos, quando ainda existiam escolas para ensinar pessoas comuns a se comportar na alta sociedade, elas eram, como regra geral, um fracasso absoluto: não importa o quanto elas ensinavam as regras de comportamento, elas não eram capazes de ensinar as meta-regras que regulavam a sutil transgressão das regras. E, falando sobre subjetividade expressiva, também se pode dizer que subjetividade aparece na fala apenas por meio de tais violações regulamentadas. Sem elas o que obtemos é um discurso plano e impessoal.
E se imaginarmos o comunismo de maneira semelhante: como uma nova substância ética (uma estrutura de regras) que permita a liberdade positiva? Talvez seja assim que devemos reler a formulação de Marx da oposição entre o reino da necessidade e o reino da liberdade. O comunismo não é a própria liberdade, mas a estrutura de um reino de necessidade que sustenta a liberdade. Também é assim que eu deveria replicar a Tyler Cowen que, em um debate em Bergen, me perguntou porque continuo mantendo a antiquada noção de comunismo. Por que não deixo de lado e gosto de escrever meus comentários provocativos anti-PC com suas perversidades e provocações? Minha réplica deveria ter sido que eu preciso do comunismo precisamente como pano de fundo, o firme modelo ético, o principal compromisso com uma Causa que faz possível todos os meus prazeres transgressores. Em outras palavras, não podemos imaginar o comunismo como uma ordem autotransparente sem alienação, mas como uma ordem de “boa” alienação, de nossa confiança em uma rede de controle e regulamentações invisíveis, que sustentem o espaço de nossa liberdade. No comunismo, eu deveria ser levado a “confiar” nessa teia de controle e ignorá-la, concentrando-me no que torna minha vida significativa.
Essa alienação constitutiva embutida na substância simbólica está ausente em Saito devido a seu foco no metabolismo do processo de trabalho. Procurando uma fundação da vida humana pré-capitalista, ele postula o processo do metabolismo entre natureza e o homem como o fundamento sobre o qual o processo do capital se baseia. Esse metabolismo foi distorcido pelo capital que o parasita, de modo que a “contradição” básica do capitalismo é aquela entre o metabolismo natural e capital: a natureza resiste ao capital, ela põe um limite à sua autovalorização. A tarefa do comunismo é então inventar uma nova forma de metabolismo social que não irá ser mediado pelo mercado, mas organizado de uma forma humana (racionalmente planejada). Esse é o motivo de Saito ser profundamente anti-hegeliano: seu axioma é que a dialética hegeliana não pode pensar os limites naturais do capital, o fato que o automovimento do capital não pode sequer “negar”/integrar sua base natural pressuposta:
A ecologia de Marx lida com a síntese dos aspectos históricos e trans-históricos do metabolismo social, explicando como a dimensão física e material do “metabolismo universal da natureza” e do “metabolismo entre humanos e natureza” são modificadas e eventualmente rompidas pela valorização do capital. A análise de Marx busca revelar os limites da apropriação da natureza através da subsunção pelo capital.
Marx não fala sobre a subsunção do capital em termos formais e abstratos. Ao contrário, ele está interessado em como essa subsunção não é apenas formal, mas transforma gradualmente a própria base material: o ar torna-se poluído, o desmatamento acelera, a terra é exaurida e tornada menos fértil, etc. Saito vê nessa fenda a “contradição” básica do capitalismo: novamente a produção social está subsumida ao processo de autovalorização do capital, o objetivo do processo se torna a autovalorização ampliada do capital, o crescimento da acumulação do valor e, uma vez que o meio ambiente definitivamente conta como uma externalidade, consequências ambientais destrutivas são ignoradas, elas não contam:
O capital contradiz a limitação fundamental das forças da natureza e dos recursos por causa de seu impulso à autovalorização infinita. Essa é a contradição central do modo de produção capitalista, e a análise de Marx busca discernir os limites dessa incomensurável direção para a acumulação do capital dentro de um mundo material (p. 259).
Quando ele fala sobre a “contradição” entre capitalismo e natureza, Saito permanece dentro dos limites de uma oposição entre as demandas crescentes da humanidade e os limites óbvios do mundo finito que habitamos. O mundo inteiro simplesmente não pode fruir do consumismo dos países altamente desenvolvidos já que recursos naturais à nossa disposição são limitados e não-renováveis. O que uma tal abordagem de senso-comum ignora é o oposto, a outra face da exaustão, da crescente escassez dos recursos naturais: o excesso, a explosão de abundância, de desperdício em todas as suas formas, de milhões de toneladas de plástico desperdiçados circulando nos oceanos à poluição do ar. O nome desse excedente é “emissão”. O que é emitido é excedente, que não pode ser “reciclado”, reintegrado à circulação da natureza, um excedente que persiste como um restante “inatural” crescendo ao infinito e desse modo desestabilizando a “finitude” da natureza e de seus recursos. Esse “desperdício” é a contraparte material dos refugiados desabrigados que forma uma espécie de “humano desperdiçado” (desperdício, é claro, do ponto de vista da circulação global do capital).[3]
A ecologia está, portanto, no centro da crítica de Marx à economia política, e por isso que, nas últimas décadas de sua vida, Marx estava lendo extensivamente livros sobre química e fisiologia da agricultura. (A razão pela qual Marx voltou-se para esses temas é clara: ele queria estudar o processo de vida do metabolismo sem cair na armadilha de conceber a vida que precede o capital em termos de uma “força vital” romântica.) A premissa central de Saito é de que essa “contradição” não pode ser compreendida em termos hegelianos, e esse é o motivo de ele zombar do fato de que o marxismo ocidental “lida primariamente com formas sociais (muitas vezes com um fetichismo extremo da Ciência da lógica de Hegel)” (p. 262).
Então, qual modo de relacionamento com Hegel deveria uma orientação ecológica do marxismo assumir hoje? A lógica de Hegel é um modelo mistificado/idealista de um processo revolucionário (Grundrisse, jovem Lukács)? É a lógica do capital? É a predecessora de uma nova ontologia universal?
Quando Chris Arthur diz “é precisamente a aplicabilidade da lógica hegeliana que condena o objeto como uma realidade invertida sistematicamente alienada de seus portadores,”[4] ele fornece a formulação mais concisa da “lógica de Hegel como a lógica do capital”: o fato de que a lógica de Hegel pode ser aplicada ao capitalismo significa que o capitalismo é uma ordem perversa de alienação. Ou, como John Rosenthal sustenta, “Marx fez a curiosa descoberta de um domínio do objeto no qual a relação invertida entre o universal e o particular, que constitui o princípio distintivo da metafísica hegeliana, de fato é obtido. Todo o enigma da “relação Marx-Hegel” consiste em nada mais além disso: […] é precisamente e paradoxalmente as fórmulas místicas da lógica hegeliana para qual Marx encontra uma aplicação racional e científica.”[5] Em suma, enquanto, em sua primeira crítica de Hegel, Marx rejeitou seu pensamento como uma inversão especulativa tresloucada do estado atual das coisas, ele ficou impressionado ao perceber que existe um domínio que se comporta de modo hegeliano, nomeadamente o domínio da circulação do capital.
Lembre-se do motivo marxista clássico da inversão especulativa da relação entre o universal e o particular. O universal é apenas uma propriedade de objetos particulares que realmente existem, mas quando somos vítimas do fetichismo da mercadoria, aparece como se o conteúdo concreto de uma mercadoria (seu valor de uso) seja uma expressão de sua universalidade abstrata (seu valor de troca). Um valor abstrato universal aparece como uma substância real, que sucessivamente encarna a si mesma em uma séria de objetos concretos. Essa é a tese marxista básica: já é o mundo efetivo das mercadorias que se comporta como a substância-sujeito hegeliana, como um universal passando por uma série de personificações particulares.
Na leitura de Marx, o movimento especulativo autoprodutor do capital também indica uma limitação fatal do processo dialético hegeliano, alguma coisa está fora da compreensão de Hegel. É nesse sentido que Lebrun menciona a “fascinante imagem” do capital apresentada por Marx (especialmente nos Grundrisse): “uma mistura monstruosa de boa infinitude e má infinitude”, a boa infinitude que cria suas pressuposições e as condições para seu crescimento, e a má infinitude que nunca cessa de superar suas crises e encontra seus limites de sua própria natureza.”[6] Essa talvez seja a razão pela qual a referência de Marx à dialética de Hegel em sua “crítica à economia política” é ambígua, oscilando entre aceitá-la como uma expressão mistificada da lógica do capital e tomá-la como o modelo para o processo revolucionário de emancipação.
Primeiro, há uma dialética como “a lógica do capital”: o desenvolvimento da forma-mercadoria e a passagem do dinheiro para o capital é claramente formulada em termos hegelianos (capital é a substância-dinheiro que se transforma no processo automediador de sua própria reprodução, etc.). Então, há a noção hegeliana de proletariado como “subjetividade sem substância”, i.e., o grandioso esquema hegeliano do processo histórico da sociedade pré-classe ao capitalismo como separação gradual do sujeito de suas condições objetivas, de modo que a superação do capitalismo significa que o sujeito (coletivo) reapropria-se de sua substância alienada. A matriz dialética hegeliana serve, portanto, como um modelo da lógica do capital, assim como o modelo de sua superação revolucionária.
Mas, novamente, qual modo de relacionamento com Hegel deveria um marxismo ecologicamente orientado assumir hoje? Deveria ser a dialética hegeliana como a expressão mistificada do processo revolucionário? Como expressão filosófica da lógica perversa do capital? Como versão idealista de uma nova ontologia dialético-materialista? Ou, devemos simplesmente afirmar (como Althusser) que Marx apenas “flertou” com a dialética hegeliana, que seu pensamento era totalmente estrangeiro à Hegel?
Há uma outra possibilidade: uma leitura diferente do próprio processo dialético hegeliano, não como um modelo de “sujeito-apropriação-substância”. Décadas atrás, nos primeiros anos da ecologia moderna, alguns leitores perspicazes de Hegel notaram que seu idealismo especulativo não implica em uma apropriação absoluta da natureza. Em contraste com a apropriação produtiva, a especulação deixa seu outro ser; ela não intervém em seu outro. Como Frank Ruda apontou,[7] o Saber Absoluto de Hegel não é uma total Aufhebung – uma integração perfeita de toda realidade na automediação do Conceito. É muito mais um ato de radical Aufgeben – uma desistência, uma renúncia do violento esforço de agarrar a realidade. O Saber Absoluto é um gesto de Entlassen, de liberar a realidade, de deixá-la ser e permanecer por conta própria, e, nesse sentido, romper com o esforço infinito do trabalho para se apropriar de sua alteridade, o que sempre resiste em ser apanhada. Trabalho (e a dominação tecnológica em geral) é um caso exemplar do que Hegel chama “infinidade espúria”, uma vez que é uma busca que nunca é realizada porque isso pressupõe um outro para ser dominado, enquanto a especulação filosófica é mais fácil, não é perturbada por seu Outro.
O que uma tal leitura de Hegel implica é que a dialética hegeliana não pode ser reduzida a uma suprassunção total de toda contingência na automediação do Conceito. Isso nos traz de volta à ecologia: Saito se opõe Hegel, já que Hegel é, para ele, o modelo de negação da autonomia da natureza. A Idea de Hegel não representa um processo produtivo, que não precisa mais depender de uma troca metabólica com a alteridade, mas reduz toda alteridade a um momento subordinado da automediação da Ideia? Mas se aceitarmos nossa leitura de Hegel, então Hegel não apenas tolera, mas demanda que permitamos que a alteridade irredutível da natureza permaneça outra. Esse respeito pela contingência da natureza significa que devemos evitar a armadilha de interpretar catástrofes ecológicas como sinais que apontam para um caminho linear e inequívoco para uma catástrofe final.
Precisamente, na medida em que devemos levar a sério as ameaças ecológicas, também devemos estar plenamente conscientes de como projeções e análises são incertas neste domínio. Saberemos com certeza o que está acontecendo apenas quando for tarde demais. Extrapolações rápidas apenas dão argumentos aos negacionistas do aquecimento global, então devemos esquecer a todo custo essa armadilha da “ecologia do medo”, um fascínio mórbido e precipitado por desgraças e catástrofes. Apenas uma estreita linha separa a percepção correta do real perigo dos cenários fantasiosos sobre a catástrofe global que nos aguarda. Há um tipo específico de gozo em viver no fim dos tempos, à sombra de uma catástrofe, e o paradoxo é que tal fixação na próxima catástrofe é, precisamente, uma das formas de evitar realmente confrontá-la. Para manter um mínimo de credibilidade, essa visão deve apegar-se em más notícias: o derretimento de geleiras aqui, um tornado ali, uma onda de calor em outro lugar. Todos são lidos como sinais da próxima catástrofe.
Mesmo os grandes incêndios que devastaram o sudeste da Austrália no final de 2019 e começo do 2020 não devem ser lidos de um modo simplista. Em um recente comentário no Spectator, Tim Blair abriu uma nova perspectiva sobre essa catástrofe:
“Queimadas controladas da flora crescida eram práticas comuns na zona rural da Austrália, mas agora um tipo de fundamentalismo religioso ecológico assumiu o lugar do senso comum. Há muitos exemplos de recentes decisões legais que puniram aqueles que limparam terras ao redor de suas propriedades. ‘Temos queimado menos que 1 por cento de nossas terras propensas a incêndios florestais nos últimos 20 anos’, disse o capitão do corpo de bombeiros Brian Williams, ‘isso significa que todo ano a carga de combustíveis continua a aumentar’. Tentativas bem-intencionadas, mas ignorantes para proteger ecossistemas naturais dos animais são, em parte, o motivo pelo qual esses ecossistemas são agora nada mais que cinzas e cinzas.”[8]
A tendência desse comentário é clara: está direcionada contra a pressuposição do aquecimento global, que, o autor sugere, deve ser rejeitado. Mas, na verdade o que devemos aprender com o seu comentário é a ambiguidade de sinais. Aqui, uma volta para a teologia pode ser útil, uma vez que os ecologistas são frequentemente acusados de embasarem-se em um fervor quase religioso. Em vez de rejeitar essa acusação, devemos orgulhosamente aceita-la e qualificá-lo ao mesmo tempo.
O início do evangelho de João contém uma teoria completa dos sinais (ou milagres). Deus produz milagres, ou, como diríamos hoje, coisas chocantes acontecem que perturbam nosso senso comum da realidade, como os incêndios na Austrália. Mas “se virmos milagres sem acreditar, apenas vamos fortalecer nosso pecado.”[9] Os sinais são significados para convencer os crentes, mas quando eles são dados, eles também reforçam a oposição à Jesus daqueles que não acreditam nele. Essa oposição “se torna mais severa e mais beligerante, mais aberta em suas tentativas de silenciá-lo; e cada vez que ele sente uma profunda ameaça dos poderes que foram colocados contra ele.”[10]
O comentário de Blair deve ser lido de acordo com essas linhas teológicas: embora isso definitivamente signifique “fortalecer nosso pecado” (da negação do aquecimento global), não deve ser descartado como uma mentira corrupta. Ao contrário, deve ser recebido como uma oportunidade bem-vinda de analisar a complexidade da situação para deixar claro como essa complexidade faz nosso dilema ecológico ainda mais perigoso. Na natureza, esse domínio da contingência é aquele em que a Ideia existe externamente com relação a si mesma. Lá estamos, por definição, no domínio dos sinais ambíguos e da “infinitude espúria” das interações complexas, onde cada ocorrência pode ser um sinal de seu oposto. Disso segue que toda intervenção humana destinada a restaurar algum tipo de equilíbrio natural pode desencadear uma catástrofe inesperada, e toda catástrofe pode ser o prenuncia de boas novas.
[1] Robert Brandom, The Spirit of Trust, Cambridge: Harvard University Press 2019, p. 501.
[2] Op. cit., p. 506.
[3] Devo essas linhas ao pensamento de Alenka Zupančič.
[4] Fonte: https://www.academia.edu/38109734/The_Logic_of_Capital._Interview_with_Chris_Arthur.
[5] Citação de: https://www.academia.edu/3035436/John_Rosenthal_The_Myth_of_Dialectics_Reinterpreting_the_Marx-Hegel_Relation.
[6] Gerard Lebrun, L’envers de la dialectique, Paris: Editions du Seuil 2004, p. 311.
[7] Ver: Frank Ruda, Abolishing Freedom, Winnipeg: Bison Books 2016.
[8] https://www.spectator.co.uk/2020/01/fight-fire-with-fire-controlled-burning-could-have-protected-australia/.
[9] https://bible.org/seriespage/lesson-63-believing-seeing-seeing-not-believing-john-1138-57.
[10] https://www.raystedman.org/new-testament/john/gods-strange-ways.
Autor: SLAVOJ ŽIŽEK
Publicado: 24/02/2020
Original: Link aqui
Tradução: Moisés João Rech
Revisão: Leonardo Mendonça