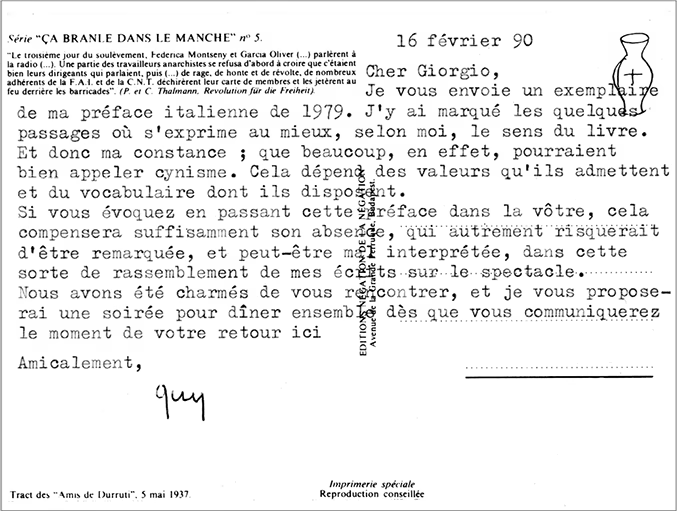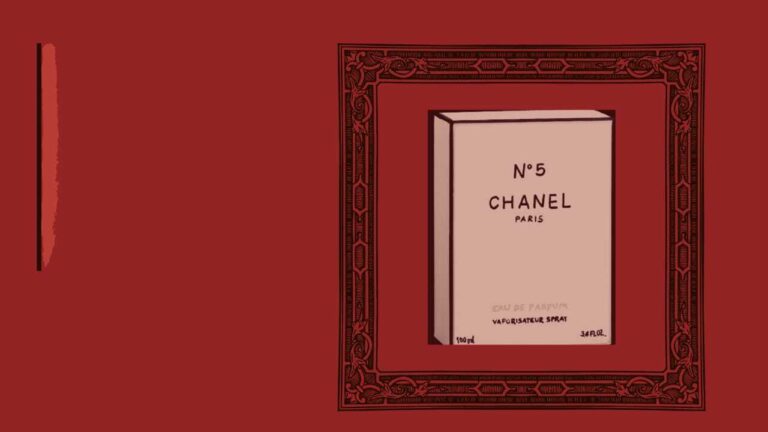Trata-se da mais recente adaptação do romance O Corte (The Ax) de Donald Westlake. Mais recente, pois anteriormente fora adaptado para o cinema pelo diretor grego-francês Costa-Gavras com o título Le Couperet (2005).
Na versão de Gavras, conhecido pelo seu “cinema político”[1], temos, a meu ver, um filme mais vigoroso que mereceria ser revisto dada a ocasião da “releitura” de Park Chan-Wook. No entanto, sem a intenção de desmerecer o diretor sul-coreano, conhecido por obras célebres como Oldboy (2003) e A Criada (2016), notam-se aspectos fascinantes e que nos possibilitam, vinte anos após o filme de Gavras, acompanhar no cinema os desdobramentos da crise da sociedade do trabalho.
Ainda que com excessivas pitadas de humor, o filme expõe a insânia desesperadora da lógica social, cujos indivíduos, despojados daquilo que os consolida na sociedade, assumem para si, como “guerra de todos contra todos”, a concorrência desenfreada para alcançar um posto supérfluo, que pode ser dispensado em razão da automatização completa.
A euforia de vencer a luta no filme é acompanhada da composição barroca de Marin Marais, Le Badinage IV. 87, o que talvez signifique que vencer esta competição, na verdade, seja A Derrota.
O filme se inicia mostrando a idílica casa de Yoo Man-su, personagem principal da trama e funcionário exemplar de uma fábrica de papel. Com esse ofício, ele é o “provedor” de sua família, constituída por sua esposa, Yoo Mi-ri, seus dois filhos e dois cachorros da raça Golden Retriever. As cenas iniciais parecem mostrar a realização do antigo sonho americano na Coreia do Sul: o pai provedor preparando o churrasco na grelha para seus filhos e sua esposa cuidando de outros preparativos, como a arrumação da mesa, para o almoço no quintal.
Todavia, nas cenas seguintes, o sonho começa a ser triturado e Yoo Man-su passa a viver o seu pesadelo na mão dos americanos que acabaram de adquirir a empresa em que trabalhara por 25 anos. Ele é demitido e, como afirma, ser demitido nesta sociedade é como ter a cabeça decepada por um machado. Talvez a frase pareça hiperbólica, no entanto, ela é realista. Isso porque, apesar do trabalho ter se tornado supérfluo, a sociedade continua se organizando em torno dele e, quanto mais essa superfluidade se apresenta, mais violenta são as imposições desse deus decaído.
O “tempo livre” se torna um martírio; ele é negativo. O desempregado, ainda que goze de benefícios de seguridade social (também cada vez mais escassos), não pode se dar ao luxo de aproveitar uma temporada livre doTripalium moderno. Ele deve submeter-se a uma série de rituais de sofrimento, desde dinâmicas em grupo, que servirão para internalizar nele pensamentos positivos, necessários para vencer na vida, até as entrevistas de emprego que o exporão à miséria de sua condição. Como na cena em que Man-Su é entrevistado sob a luz incômoda do sol. Suando e tremendo, está totalmente exposto aquele homem que tenta vender sua força de trabalho a quem não mais quer comprá-la.
O imperativo social ordena que é preciso estar em movimento, à procura daquilo que constituiria o valor da dignidade. Entre idas e vindas, o tempo passa e, nessa sociabilidade, em que os doutos pregam “tempo é dinheiro”, quanto mais tempo desperdiçado, mais difícil retornar ao páreo. Os dias correm, as dívidas chegam, e a condição de sujeito monetário sem dinheiro esfacela o indivíduo, coloca-o defronte da sociedade de que faz parte.
Bruno Davert, nome da personagem principal em Le Couperet de Gavras, anuncia o cálculo que o fez chegar em suas conclusões: “Matando a 1000 acionistas não me beneficiaria em nada. E se forem 10 executivos que tiverem despedido a 1000 empregados, o que ganharia? Nada. São meus inimigos, mas não são assunto meu. Meu problema eram estes cinco currículos. Esses cinco, além de Machefer[2]”.
Já no filme de Park Chan-Wook, vemos Yoo Man-su assistindo a um vídeo de propaganda empresarial pelo celular ao lado de Yoo Mi-ri, que diz: “Comparado ao meu marido, ele não é nada. Ele poderia ser atingido por um raio”. Neste momento, a câmera foca na risada amarelada das duas personagens. A ideia é concebida. Daí em diante, acompanharemos Yoo Man-su em sua artimanha para reconhecer seus concorrentes e suas tentativas de assassiná-los.
Enquanto em Le Couperet, Gavras assume um tom mais sombrio e de crítica social mais aguda, A Única Saída de Chan-Wook ameaça cair no pastelão, na comicidade de seus personagens e nas trapalhadas daquele que escolheu eliminar seus concorrentes. O drama social ameaça se perder. No entanto, apesar dos gracejos, ao final o filme se livra de toda aquela histeria que o acompanhava; a seriedade do tema descolore a tela e as expressões cômicas, assumindo o cinza do cemitério daqueles combalidos da guerra sangrenta que é a sociedade moderna em sua normalidade.
A casa não é mais idílica, uma vez que lá residem as vítimas do triunfo. Ri-One, a filha do casal, expressa todo o horror trágico numa suíte de título alegre. Em 2005, Davert ainda tinha inimigos a encarar quando conquistava o que pretendia; em 2025, a escuridão das fábricas sem vida prenuncia a derrota da humanidade sob um sistema que devasta a tudo e todos.
[1] Apesar dele mesmo desdenhar dessa alcunha, afirmando com razão que todo filme é político
[2] Aquele que ocupa o posto desejado por Davert. Para além dos concorrentes, era preciso também forjar a vaga desejada.

André Luiz B. Silva
Doutorando em Filosofia na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). É integrante e um dos fundadores da Revista Zero à Esquerda.