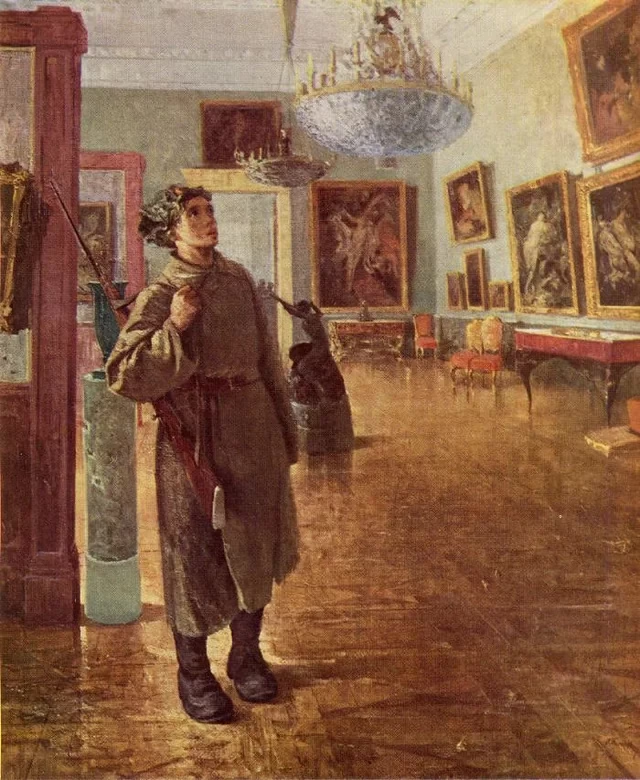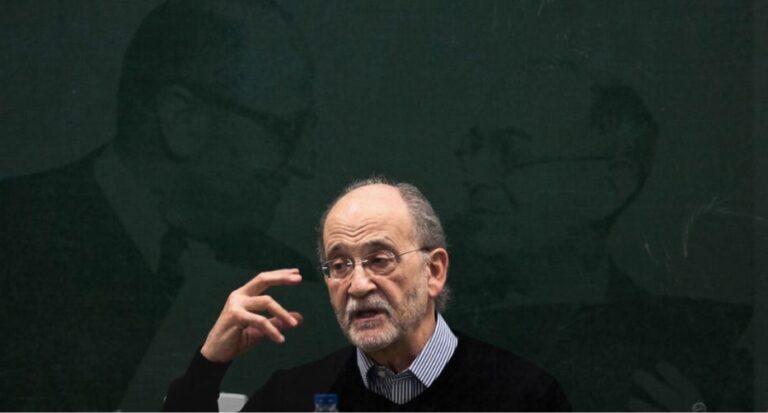…ninguém ignora que a riqueza em todo o mundo costumou ser o esteio da nobreza
Frei Gaspar da Madre de Deus
A ideia de nobreza desempenhou e desempenha um papel de maior importância na consciência do Ocidente. As noções de superioridade e de excelência estão, por mais de um aspecto, profundamente ligadas à representação de um padrão ideal de comportamento emprestado pela tradição ao homem nobre, ao senhor.
Do ângulo psicossociológico, a nobreza é portanto, antes de mais nada, um modo de viver, um conjunto de sentimentos e de maneiras que tem virtude própria, e que a generalidade dos homens deverá assimilar a fim de revestir-se, de certo modo, da qualidade superior inerente ao homem nobre. As ações nobres, os metais nobres, os tecidos nobres, os lugares nobres – indicam bem claramente a penetração, na consciência coletiva, desta convicção de excelência, que leva ao desejo de participação.
O sentimento de superioridade – ligado aos dois processos de superordenação e subordinação – é um dos grandes eixos da conduta humana, e o sentimento de nobreza prende-se diretamente a ele. Se passarmos do plano psicológico para o sociológico, sentiremos, de início, a necessidade de relacionar estreitamente o padrão de comportamento com as estruturas sociais, a que está associado, e aos valores sociais, que as mantém no plano da organização.
Alargando deste modo a perspectiva, veremos que a representação ideal de um comportamento nobre depende da representação ideal de um tipo de homem, o Nobre; e que este se baseia em determinadas formações históricas – as nobrezas dos países e regiões da Europa Ocidental – caracterizadas por certos tipos de estratificação social e por tipos de exploração e apropriação dos bens econômicos.
O presente ensaio não pretende estudar a ocorrência ou gênese em diversas sociedades, primitivas e evoluídas, do fenômeno quase universal de camadas privilegiadas pela função, pela propriedade ou pela sobrevivência do prestígio. Visa tão somente estabelecer as condições que determinaram a formação do ideal nobre de comportamento, ocorrente na cultura dos povos contemporâneos do Ocidente. Uma tentativa, portanto, de simplificação, para obter um tipo.
Este poderia ser uma construção ideal ou um padrão histórico, tomado como paradigma. O autor ficou a meio caminho das duas possíveis e legítimas soluções metodológicas, concentrando a sua atenção num tipo histórico de nobre, mas procurando, nele, o reflexo dos tipos anteriores, e o embrião dos tipos posteriores. O gentil homem francês da segunda metade do século XVII, o cortesão de Luiz XIV no período áureo do seu reino – que vai até a guerra da Liga de Augsburgo – pareceu uma base historicamente válida para a generalização sociológica. Com efeito, ele não apenas absorve no seu comportamento os velhos padrões da cavalaria medieval, como o refinamento pragmático do Renascimento italiano e borguinhão, florada de uma cultura urbana patrícia fundida com o espírito cavaleiresco para definir o nobre moderno. Mais ainda: graças à projeção do seiscentos francês, as aristocracias dos demais países se amoldaram mais ou menos ao seu modelo, incorporando-o desta forma aos respectivos patrimônios culturais.
Neste número de Sociologia o autor publica a parte inicial – cerca de um quarto do trabalho -, que estuda a base histórico-social em que se desenvolveu o nobre-tipo dos tempos modernos e não representa, pois, o cerne das suas considerações.
Nos diferentes países do Ocidente – Alemanha, Itália, Inglaterra, França, Espanha e Portugal – as respectivas nobrezas se formaram de modo nem sempre análogo. Não obstante, o ponto de partida e o ponto de chegada são parecidos, na grande maioria dos casos. Na alta Idade Média, a nobreza surgiu, como camada social, da atribuição de liderar e defender as populações rurais das vicissitudes de um período em que a vida urbana regredira quase até o desaparecimento, os caminhos se obliteraram e o policiamento – em consequência – desaparecera como força de controle social. (Mais tarde, o exercício de funções públicas foi, também, sobretudo na Itália e na Alemanha, uma fonte de enobrecimento).
De qualquer forma, a ideia do nobre-por-excelência ficou ligada ao Senhor e ao Cavaleiro: um tipo de dominação econômica e um tipo de função militar; dupla circunstância que vai definir formas especiais de diferenciação e de estratificação social, para culminar na elaboração de uma ideologia própria.
Ora, o Senhor e o Cavaleiro tiram sua razão de ser do fato de servirem: o serviço é o fundamental da nobreza, o esteio da sua diferenciação como camada social; o nobre se diferencia inicialmente do não-nobre pela função que exerce. Antes da alta Idade Média não era concebível a nobreza como qualidade separada do ato específico que a justificava: o filho de cavaleiro não nascia cavaleiro, e se não fizesse jus a esta qualidade pela capacidade militar, não seria nobre. Inicialmente, portanto, nobre é o que serve pessoalmente em duas formas de serviço: ao seu senhor suserano, a quem jurou fidelidade e obediência; indiretamente, às populações dos domínios do senhor. A possibilidade física de combater, somada à possibilidade econômica de armar-se (ter um cavalo, uma lança, uma espada e um arnês) definiam um nobre eventual: o serviço prestado e o juramento que punha o serviço à disposição de um senhor definiam o nobre real.
Dois problemas sociais apareceram então, necessariamente, como base indispensável ao estado de nobreza: a garantia de serviço e a sua remuneração. Destes problemas, decorrerão um tipo de apropriação econômica, com suas várias modalidades, e um padrão ideal de comportamento, que por sua vez determinarão novas formas de estrutura social. O feudalismo, nome pelo qual designamos a maneira por que se reuniram os três elementos – econômico, sociológico e ideológico – foi uma solução ordenadora das novas relações sociais, tendo ocorrido sob as formas classicamente definidas na França e na Alemanha. Na Inglaterra e em Portugal a centralização precoce limitou-o; outros fatores de limitação foram a conquista moura na Espanha e a vida urbana na Itália, nas Flandres e em certas regiões na Alemanha. Para todo o Ocidente, porém, podemos falar em feudalismo (como simplificação terminológica) no sentido de um tipo de organização do serviço, e sua remuneração, na base da vassalagem e da distribuição de terras.
O feudo – terra dada em troca de serviço e obrigando a serviço eventual – foi a forma por que se deu consistência ao serviço militar do cavaleiro: define uma situação de controle desorganizado, poder central fraco, assim como o soldo define a existência de um controle centralizado e definido. O guerreiro soldado foi, primeiro, servidor do chefe, antes de ser o de um governo: “chi comanda paga e chi paga comanda” – diziam os condottieri.
Para garantir essa situação econômica, era necessária uma ética própria, como é hoje a “palavra comercial”, e como foi, então, a honra cavaleiresca. Em contraposição ao patriotismo grego ou romano, fundado na defesa dos lares; do patriotismo moderno, fundado na preservação da integridade nacional, o sentimento feudal é a honra cavaleiresca, ou seja, o respeito ao juramento de servir. Até quase os nossos dias, ninguém morria pela pátria; morria pelo Senhor – como estabeleceu a ética feudal, baseada na lealdade pessoal das tribos germânicas. Nasce daí a fidelidade, que é a garantia de servir e ser servido – e portanto, a garantia do tipo feudal de apropriação da riqueza.
Numa sociedade predominantemente agrária – se excetuarmos algumas cidades da Itália, e, mais tarde, das Flandres e da Alemanha – a terra é o centro das relações sociais. A finalidade das guerras é a terra, e poderemos, de um ângulo sociológico e econômico, interpretar a lealdade cavaleiresca como um sistema ideológico para regulamentar a obtenção e posse dos bens econômicos, principalmente bens territoriais.
A fidelidade do cavaleiro ao Senhor é a garantia permanente da posse da sua defesa; perjurar significa desfalcar de uma lança a polícia territorial. Uma análise mais prolongada nos mostraria até que ponto é verdadeira esta hipótese: Veja-se, por exemplo, a instituição feudal do resgate – espécie de indenização por perdas e danos que é, também, uma autêntica fonte de renda. Nos combates, o cavaleiro procura menos matar do que aprisionar: matam-se os peões que não tem valor econômico, prendem-se os cavaleiros, que serão postos a resgate segundo a sua hierarquia. Ora, o cavaleiro posto a resgate está vinculado ao captor pela honra, que quebrará se fugir, pois lhe pertence como a coisa ao possuidor. João II de Valois, capturado em Poitiers pelo Príncipe Negro, padece longo cativeiro na Inglaterra, esperando o dinheiro do pesadíssimo resgate. Obtendo licença para voltar à França, deixa em seu lugar o filho. O rapaz foge, o rei não trepida: volta ao país inimigo, de cujo soberano era presa, e falece no exílio.
A entrega da espada, o resgate, o tratamento do prisioneiro – são aspectos de um comportamento cuja base é em parte econômica. A lealdade é a garantia da propriedade, e tanto é felão o cavaleiro que trai o suserano, quanto o suserano que trai o vassalo. O juramento de fidelidade e o culto da palavra são penhores de um certo tipo de organização econômica, em que a escassez de numerário, da manufatura e do comércio davam, por um lado, importância fundamental à terra, por outro, à apropriação direta de riquezas pela guerra e o assalto. Por isso mesmo, a honra feudal nos parece, a nós de hoje, tão incoerente à primeira vista, quanto a nossa lhes pareceria, aos homens da Idade Média. Lembremos apenas que matar a peonagem, ou as populações, não era crueldade; mas era crueldade matar ao suzerano, ou ao vassalo; que o roubo a mão armada, quer em castelos, quer em burgos, quer de burgueses na estrada, quer de vilões no campo, não era deprimente para o assaltante; mas era deprimente perjurar, ou desviar a parte que aos pares, suzeranos ou vassalos coubesse do botim.
O feudalismo, como sistema de apropriação e distribuição da terra, se instala realmente com o enfraquecimento do poder imperial no Ocidente. Do século IX ao século XII, aparece como a única solução viável de organização econômica e social. Ao lado da Igreja, é a foça que mantém o Ocidente e torna possível, em alguns países, o desenvolvimento da centralização administrativa e a preservação da cultura – se entendermos por cultura também as formas de convivência humana próprias de uma dada sociedade.
Do ponto de vista estrutural, a primeira consequência do feudalismo é a formação de uma camada social superposta às demais e se impondo a elas, como necessidade, pelo exercício efetivo da liderança. O vínculo normal na alta Idade Média é a dependência do inferior em relação ao superior. A meta de quem deseja sobreviver dentro das normas então vigentes de vida social é a subordinação completa a um protetor.
O protetor é o homem livre – e só é livre quem tem armas e elementos para defender a sua vida e assegurar o auxílio de alguns apaniguados. A nobreza é, portanto, inicialmente, a universalidade dos livres, ou simplesmente dos homens; baro, baron; varão, barão. A sua realidade estrutural (definido quase dois tipos de humanidade entre os quais medeia um abismo) é fruto de uma condição humana diferente da maioria dos homens. O barão é um ser à parte, que justifica a sua preeminência pelo serviço que presta, pela garantia relativa que dá ao trabalho do campo. A ideia de nobreza se constitui, lentamente, ligada ao sentimento de que o nobre é condição indispensável da vida social – sentimento que só começou a perder o significado com o desenvolvimento da vida urbana.
Os historiadores (que até hoje não entraram em acordo, nem mesmo relativo, quanto à origem da nobreza) não nos fornecem dados para avaliar com segurança o processo do seu desenvolvimento. O fato é que a certa altura, antes do século XI, ela já era uma camada, um universo estrutural com os seus valores correspondentes e a sua técnica própria de apropriação econômica e liderança social, solidificada quando harmonizaram em seu seio as noções aparentemente contraditórias de serviço e herança.
Nas castas, os membros nascem membros e assim morrem sem alteração possível: a primitiva nobreza feudal, baseada no serviço, não podia ser fechada; era acessível aos que servissem. Por outro lado, haveria bem cedo a tendência de transformar a posse da terra do suzerano em propriedade de fato, e portanto transmiti-la aos herdeiros. No momento em que se conciliou a posse, fundada no serviço, com a herança, a nobreza foi adquirindo traços de casta. Nunca o foi, porém; sobretudo na Idade Média. A concepção orgânica da sociedade, que reinava então, diferenciava os grupos segundo a função e os estratificava segundo a importância desta. Para a concepção orgânica, não pode formar-se a casta, propriamente dita, porque o critério de função – que para esta é o nascimento – reside, conforme ela, primeiro no tipo, segundo na excelência da tarefa.
A configuração estrutural da nobreza não prescinde, para ser compreendida, da noção de Império, ou de Realeza. O Império é o próprio corpo do Ocidente; os grupos humanos, ordenados dentro dele à maneira de órgãos, são parcelas dele: são o que se chamou bem cedo de estados, ou seja, condições, modos de estar e de ser. O estado de clérigo, a maneira de estar de clérigo, é que o distingue dos não-clérigos: o clero é portanto um estado – designação que implica uma sociologia embrionária, para a qual as relações sociais definem a condição humana do socius. O estado da nobreza aparece como um dos possíveis modos de ser; o nobre é, servindo com a espada, como o clérigo é, servindo com o espírito, ou o servo é, servindo com o trabalho produtivo. Para os teóricos reacionários e para os racistas (que coincidem em mais de um ponto), a nobreza ocidental seria, antes de mais nada, a camada superior formada pelos povos conquistadores e sancionada depois pelo serviço, que empresta à nobreza um status de direito natural. É a famosa teoria formulada e posta em voga por Boulainvilliers nos seus Essais sur la Noblesse de France, que ainda hoje tem adeptos e que não se justifica nem à luz da história, nem da sociologia.
Temos, portanto, uma sociedade em que os modos de fazer determinam os modos de possuir e de ser e são valorizados diversamente, segundo uma hierarquia que regula a forma de remuneração e distribuição dos bens. O membro do estado da nobreza tem mais oportunidades para levar seus filhos à prestação do serviço nobilitante do que os membros do estado de servidão: assim, tal serviço passa quase a ser um privilégio daquele estado.
Entretanto, é certo que antes do fim do século XIII não houve enobrecimentos, ou seja, concessão do estado de nobreza; até então, nobreza era condição que se adquiria pelo serviço militar, com reconhecimento dos pares (regulamentado no século XI pela cerimônia de investidura cavaleiresca) e maiores probabilidades para os filhos de nobres. Em seguida, o estado de nobreza passa a ser concedido pelos reis a quem lhes aprouver, ou adquirido automaticamente pelo exercício de certos cargos civis, à imagem do que se deu desde cedo nas regiões em que sobreviveu uma certa vida municipal.
Como sistema de distribuição dos indivíduos no espaço social, a nobreza desde logo se diferenciou em segmentos e subcamadas, que a partir dos séculos XII e XIII foram sancionados pela hierarquia feudal. A princípio, conde, marquês e duque era simplesmente o barão (isto é, o possuidor de terra) investido – quer da administração de uma divisão do Império, ou senhor de um feudo de grandes proporções, no 1º caso; quer o conde da fronteira, no 2º, quer o chefe militar, no 3º. Só visconde e vida me aparecem de início como graus subordinados a um conde e a um bispo respectivamente. Embora Boulainvilliers faça Gregório de Tours especificar a hierarquia dos títulos, parece que antes dos séculos XII e XIII não se designou a importância relativa dos barões com títulos específicos. A especificação nunca foi rígida, e nunca foi – excetuada em parte a Inglaterra – critério de estratificação independente da antiguidade do título, a ilustração histórica da família e da riqueza. Antes do século XIV não se concederam títulos de nobreza, que eram até aí tomados pelos barões de acordo com o tamanho e a importância dos feudos. Até quase os tempos modernos, os senhores se designavam de preferência por nomes comuns ao seu nível: os maiores eram sires ou seigneurs, em França; Herr ou Freiher, na Alemanha; Lords, na Inglaterra; ricos-hombres, na Espanha e ricos-homens, em Portugal. Vinham abaixo os cavaleiros (cavalier, Ritter, Knight, cavallero, cavaleiro), depois os escudeiros (écuyer, Edelknappe, squire, escudeiro, escudeiro) e os pagens (page ou damoiseau, Edelknabe, page, doncel ou mozo, donzel ou moço). Era uma escala relativamente móvel, que funcionava como sistema de seleção e distribuição dos indivíduos no grupo – quer pelo seu carácter educacional, de aprendizado progressivo, quer pelo seu carácter discriminatório, de peneiramento organizado. Nem todo pagem passava a escudeiro, a maioria dos escudeiros não chegava a cavaleiro e muitos poucos cavaleiros chegavam a senhores, isto é, donos de terra e castelo, com pendão e caldeira. Na sua pureza, o sistema hierárquico do feudalismo permitia a muitos a possibilidade de enobrecimento; a poucos a aquisição efetiva da categoria de cavaleiro; a muitos poucos o senhorio. Em Portugal e Espanha, do donzel ao rico-homem todos eram fidalgos: moço-fidalgo, fidalgo-escudeiro, fidalgo-cavaleiro: – fidalgo de solar, como o rico-homem, ou apenas fidalgos de linhagem, como a maioria dos demais. A fidalguia, portanto, exprimia uma qualidade, um estado; o tipo de serviço militar definia, dentro deste estado, uma posição que se consolidava pela posse da terra. Só os fidalgos de grandes cabedais tinham vassalos a seu dispor, porque tinham terra ou outros bens para remunerá-los; o cavaleiro tinha o seu escudeiro e o seu pagem. A situação era mais ou menos a mesma em toda a Europa feudal, definindo uma camada organicamente integrada no sistema social e harmonicamente estratificada, segundo uma escala governada por barreiras transponíveis pelas provas de capacidade militar.
Esta estratificação corresponde ao período áureo da organização feudal, e exprime o sistema social no seu momento de integração mais harmoniosa. Nela se espelha a organização da Cavalaria, como padrão de comportamento, sistema de seleção humana e ritual de iniciação. Antes dela, isto é, antes do século XI e das Cruzadas, não só a nobreza devia ser uma camada social mais aberta, como a sua integração em estado ainda não se ultimara; consequentemente, a diferenciação e estratificação interna eram menores. Senhores e vassalos, eis a divisão primitiva da nobreza. A Cavalaria surgiu como regulador de um sistema que necessitava refinar-se estruturalmente a fim de funcionar dentro da fase de maior estabilização que sucede o ano 1000.
A generalização dos títulos corresponde provavelmente à complicação do sistema feudal e à estabilização de grandes feudos, baseados na sua subdivisão em feudos menores, que por sua vez se repartiam em pequenos senhorios. Apesar dos títulos de Conde e Duque serem utilizados indiferentemente por Senhores de poder equivalente (na França, por exemplo, Conde de Toulouse, Duque de Bretanha, Duque de Borgonha, Conde de Champagne), prevaleceu pouco a pouco o critério de dar o título de barão aos pequenos senhores, o de conde aos grandes e o de duque aos maiores. Ao tempo de Luís IX, o Livre de justice et de plet estabelece, sancionando uma prática já regularizada sob Felipe Augusto: “Duque é a primeira dignidade, depois marquês, e depois conde, e depois visconde, e depois barão, e depois castelão, e depois valvassor, e depois cidadão, e depois vilão”1.
No entanto, barão ainda continuou designação geral, não título, e alguns grandes senhores não tomaram nenhum mais elevado, como o de Montmorency, que permaneceu barão, e o de Coucy, que continou sire.
Na decadência do regime senhorial, a nobreza não só passou a ser conferida, como também os títulos. Felipe III havia feito o primeiro nobre em 1270: seu filho Felipe IV criou o primeiro titular. Até então, o título era designação, por assim dizer automática e por muito tempo arbitrária, do senhor do feudo: a partir daí, pôde ser dado pelo rei a quem quisesse, contanto que a associasse a uma propriedade territorial. Foi só então que a nobreza passou a procurar títulos e estes passaram a significar algo em si, independentemente do caráter feudal do seu detentor. O título teve, portanto, três funções distintas no Medievo pós-carolíngio: 1 – designação mais ou menos arbitrária da função governativa; 2 – designação mais ou menos hierárquica da importância do feudo detido; 3 – designação mais ou menos honorífica de nobres do agrado real. A primeira fase corresponde à relativa indiferenciação estrutural da nobreza e à sobrevivência da nomenclatura administrativa dos carolíngios; a segunda exprime a diferenciação dos senhores em categorias devidas à estabilização e sub-divisão feudal, correspondendo à estratificação geral da nobreza, já sistematizada em estado, sob a influência daquela diferenciação e da regulamentação trazida pela Cavalaria; a terceira formação corresponde à decadência da Cavalaria e do feudalismo, com subsequente formação de uma nobreza subordinada estreitamente ao Rei.
Vimos nas páginas precedentes a ligação entre estratificação e função feudal; reportando-nos ao que ficara indicado no segundo parágrafo, é fácil estabelecer a ligação entre ambas as formas correspondentes de apropriação e distribuição das riquezas, também indicadas acima. O tipo de posse da terra e apropriação dos bens móveis está ligado à função militar, ou seja, ao principal critério de aquisição (anexação, conquista, pilhagem, assalto, rapto): a relação entre ambos origina um tipo de estrutura social e um padrão correspondente de comportamento – respectivamente o estado da nobreza e a Cavalaria. Deste modo, vemos que a superposição estrutural corresponde a uma função efetiva de liderança – tão importante para a população da alta Idade Média que dá lugar ao desenvolvimento de um tipo carismático de prestígio, graças ao qual fica profundamente enraizada na consciência coletiva a ideia de que não apenas certas funções dependem de uma virtude específica do nobre, como sanciona para ele uma série de privilégios políticos e econômicos.
Do ponto de vista sociológico, a nobreza medieval representa principalmente um tipo de estrutura social, de organização econômica e de liderança política – nos termos definidos até aqui.
Isto posto, deve-se agora esboçar rapidamente o encontro do padrão cavaleiresco com a concepção de vida do patriciado urbano das cidades italianas e flamengas, nos séculos XIV e XV; encontro que constitui a excepcional importância histórica da Corte dos Duques de Borgonha, da última dinastia (Valois).
São dois mundos em presença. Duas maneiras diversas de apropriação econômica, de concepção de vida; dois critérios diferentes de estratificação, duas técnicas quase opostas de viver. Uma ordem de guerreiros e senhores rurais que defronta uma formação nova, um novo estado emerso do mundo inferior dos servos, mascates e artesãos dos burgos – uma ordem de comerciantes e homens da cidade.
A burguesia das cidades italianas e flamengas deu origem a uma forma especial de nobreza, uma aristocracia de funcionários municipais e mercadores ricos, que vieram a constituir os patriciados famosos do Renascimento. Estes patriciados desenvolveram padrões do mais alto refinamento, que se exprimem na floração estética da pintura, da escultura, da ourivesaria, da ferralheria, da indumentária trecentista, quatrocentista e quinhentista. O encontro de tais padrões com os ideais cavaleirescos – prontos para o processo de refinamento em princípios quase estéticos, desde que a cavalaria entrara em decadência – o seu encontro deu origem aos padrões, ao tom da nobreza de corte, que se estabeleceu no século XVI em França, segundo moldes italianos. O sistema moderno está em boa parte preso a esse contato de dois sistemas sociais e culturais bastante diversos, cujo primeiro grande exemplo é certamente a Corte de Borgonha. Posto a cavaleiro sobre a França, a Alemanha, a Itália e os Países Baixos, o domínio dos seus quatro últimos duques – com ser o último grande feudo soberano funcionando no plano das relações internacionais – pôde ser uma síntese da herança feudal com a cultura burguesa das cidades. O grupo de grandes artistas que trabalharam com os Valois burguinhões exprimem um ideal sincrético, em que o espírito belicoso da Cavalaria se expande em símbolos estéticos, em que o espírito burguês se manifesta pelo realismo das cenas de interior e dos retratos. Pela primeira vez, os burgueses são, artisticamente, tratados como os nobres, num estado feudal. Os retratos admiráveis do banqueiro Portinari, de Hans Memling, ou do banqueiro Arnolfini, de Van Eyck, são tratados com a mesma dignidade, a mesma consistência humana que os de Felipe o Bom e Carlos o Temerário, de Van der Weyden, ou o do Grande Bastardo, pelo mestre desconhecido do Museu de Chantilly.
O refinamento de uma cultura urbana já sedimentada pela vida municipal de três e quatro séculos foi absorvido pela nobreza e incorporado à sua técnica de viver, ao lado dos padrões cavaleirescos ligados à estrutura feudal vacilante. O resultado é a etiqueta borguinhã, a complicada pragmática que transforma a vida nobre numa obra de arte e lhe dá nova razão de ser.
O símbolo da fusão se encontra nas ordens cavaleirescas então fundadas, e que exprimem menos uma disposição de militância cristã, como as antigas, do que uma atitude estética diante da vida. A expressão máxima dessa mudança da cavalaria militante em honraria simbólica é a do Tosão de Ouro, instituída por João Sem Medo para celebrar as núpcias com Isabel de Portugal. As ordens honoríficas expressam a transformação da militância feudal em serviço de um soberano e vida de corte. A posição do cavaleiro é marcada não mais apenas pelo emprego efetivo e quase cotidiano da espada, como também, e por vezes sobretudo, pelo símbolo deste emprego, pendurado ao pescoço sob forma de condecoração. Chegando ao rico patrício na vida de corte, o nobre recebe os requintes da sua vida urbana e lhe dá em troca o toque cavaleiresco. De tal contato brota boa parte dos padrões de comportamento do nobre moderno, e o processo de contaminação graças ao qual o burguês moderno tenderá (ao contrário do burguês medieval) a assumir as formas nobres de comportamento. A burguesia passa, de citadina, republicana, a força nacional e internacional, enquanto a nobreza, de super e anti-nacional que era, preservar-se-á, pelo nacionalismo, da destruição que lhe preparou a centralização monárquica. É no cruzamento de tais caminhos que se situa a experiência borguinhã.
O refinamento da vida de corte, conhecido desde o século XIII em alguns casos, pode-se dizer que se desenvolve com os Valois de França, no século XIV. No século XV, porém, reis como Carlos VII e Luís XI, políticos e administradores cercados de funcionários burgueses, desdenharam-no por completo. A tradição brilhante de Felipe VI e João II é continuada pelos príncipes semi-soberanos da Casa Real, que propiciam em suas cortes o fausto, a galanteria e o desenvolvimento das artes. É o mecenato moderno, idêntico ao praticado pelos senhores italianos e que, na França, é representado pelo duque de Berry, pelo de Bourbon, pelo de Anjou, rei da Provença, e pelo de Borganha. Felipe o Bom instaura a famosa etiqueta que seria o modelo de quase todas as cortes europeias, e que dê à vida de corte as características de um ritual – fenômeno impossível cem anos antes, quando a nobreza possuía uma independência acentuada em relação ao soberano, e a pessoa deste não havia adquirido o carácter sagrado que depois passou a ter.
O casamento de Maria de Borgonha, filha e herdeiro e herdeira do Temerário, com Maximiliano de Habsburgo, leva a pragmática borguinhã à Corte Imperial; Felipe o Formoso e seu filho, Carlos V, transportam-na para a Espanha, de onde passa à França pela influência espanhola – casamentos de Luís XIII e Luís XIV, inclusive – na primeira metade do século XVII, para ser elaborada, sob Luís XIV, na mais completa ritualização que a vida social conheceu nos tempos modernos.
Na corte francesa, o fausto e o protocolo se estabelecem com Francisco I, no início do século XVI. Politicamente, pela vitória do absolutismo; culturalmente, pelo contato comas cortes italianas de Milão, Florença, Roma, em consequência das guerras de Itália. Mas a vida italiana de corte se caracterizava, além do fausto e do mecenato, pela extrema liberdade de maneiras, como convinha a sociedades em que o nascimento era somenos. Essa liberdade desafogada (que podemos constatar no “Cortegiano”) marcou todo o quinhento francês, período de migração do nobre para a corte e incorporação à nobreza da primeira grande leva de patrícios enobrecidos.
O período que vai da decadência do feudalismo ao triunfo definitivo da monarquia absoluta, isto é, do século XIV ao século XVII, é sociologicamente da maior importância. Não somente dado o fenômeno já assinalado de contatos culturais entre o patriciado urbano e a nobreza, mas também, do ponto de vista estrutural, pelo mecanismo de recomposição de níveis-de-categoria e recrutamentos paralelos de uma nobreza nova. Os senhores feudais de grande porte desapareceram antes do século XVI, mesmo na Alemanha, onde a fragmentação da soberania persistiu de certo modo até o século XIX; em seu lugar, emergiu uma leva de pequenos senhores, de cavaleiros enriquecidos pelo serviço real, de financistas, magistrados e ministros enobrecidos pela função que desempenharam na centralização monárquica. O estado da nobreza persiste intato; a sua função se altera, com a supressão da guerra privada e a organização moderna de recrutamento; a sua composição é profundamente modificada. Dentro de uma estratificação que não varia muito, o recrutamento dos membros se transforma. Transforma-se igualmente a relação do estado de nobreza com as demais camadas estamentais da sociedade. A burguesia se apresenta, como realidade estrutural e cultural, no plano da vida nobre e do poder, concorrendo com a nobreza de que tudo até então a separava, inclusive a respectiva distribuição ecológica.
Já no século XVII, eram raras na Europa Ocidental as grandes famílias cuja ilustração social remontasse além do século anterior. Mesmo as de origem remota só haviam adquirido certa notoriedade depois do século XV, quando se deu a revolução estrutural interna, indicada acima. A alta nobreza moderna e contemporânea provém, na sua maioria, da pequena nobreza do fim da Idade Média, elevada pela destruição dos grandes senhores e mantida pelo serviço militar, o favor real e as alianças com a burguesia rica; boa parte provém de funcionários e banqueiros enobrecidos pela mesma época, ou até o século XVII. Do ponto de vista sociológico, trata-se, portanto, de estudar a persistência de uma estrutura e de certo tipo de comportamento através das alterações de função e de diferenciação interna.
Analisando o Almanaque de Gotha, que é repositório autorizado da mais alta nobreza da Europa, e que informa pelo menos metade das maiores famílias europeias, tiramos algumas conclusões interessantes para o que ficou exposto acima. De 25 famílias ducais francesas, 18 se ilustraram nos séculos XVI e XVII, 6 no século XVII e apenas uma no século XV; de 50 famílias mediatizadas no Império Alemão, 31 adquiriram alta categoria nos séculos XVI e XVII. De 25 famílias ducais inglesas, 11 se elevaram nos referidos séculos. Na França, nenhuma das famílias estudadas era de primeira plana antes do século XV; na Alemanha – onde o feudalismo encontrou condições excepcionais para sobreviver -, 8 sobre trinta tinham alta categoria antes daquele século; na Inglaterra, 3 sobre 25. Juntando as 100 famílias dos três países, temos que 72 adquiriram proeminência nos séculos XV, XVI e XVII, sendo que 60 nos dois últimos; 11, antes do século XV e 18 no século XVIII.
Se, em vez de ilustração, pesquisarmos a origem das famílias, chegamos igualmente a conclusões interessantes. Ressaltamos, inicialmente, que os dados a esse respeito, dependendo muitas vezes de genealogias complacentes, não podem ser precisos. São, no entanto, mais seguros do que as construções fantásticas da pequena nobreza e da burguesia afidalgada, pois são mais ou menos verificadas pela história.
Das 25 famílias francesas, 11 remontam ao século XI, 2 ao século XII, 5 ao século XIII,; uma remonta ao século X, 3 respectivamente aos XIV, XV, XVI; 18 sobre 25 tem origem, pois, na fase de estabilização e apogeu do feudalismo; só uma vai até as épocas perturbadas em que as linhagens não se formavam com durabilidade. 32 das 50 alemãs pertencem à mencionada fase – 4 para o século XI, 19 para o XII e 9 para o XIII. As demais famílias se repartem pelos outros séculos de maneira seguinte: X, 1; XIV, 12; XV, 1; XVI, 1. Na Inglaterra, das 25 famílias, 10 são da fase referida: uma para o século XI, 6 para o XII e 3 para o XIII. A baixa ocorrência no século XI é certamente devida à invasão normanda, que destruiu a aristocracia dos thanes anglo-saxões e substituiu-a pela nobreza invasora; aquele século, portanto, não deu origem a famílias nobres (a batalha de Hastings é de 1066). Os demais séculos se apresentam do seguinte modo: X, 1; XIV, 4; XV, 2; XVI, 5; XVII, 4. Ainda uma observação: a origem das famílias de relevo no século XVII deve-se aos três bastardos de Carlos II(casas ducais de Buccleugh and Queensberry, Grafton e Richmond and Gordon) e a uma substituição (da casa burguesa de Innes que substituiu, por casamento, a casa de Kerr, oriunda do século XIV, no condado, mais tarde ducado de Roxburghe).
Tomando as famílias dos três países, vemos que, mesmo apesar da exceção inglesa para o século XI, 60 sobre 100 são oriundas dos séculos XI, XII e XIII; 19 do século XIV e 21 dos outros séculos, inclusive 3 do X. Esses números não têm valor estatístico, dada a sua escassez e a precisão relativa das fontes; representam, no entanto, uma ilustração mais do que simplesmente conjectural, e vem apoiar o que em seguida passamos a expor.
Das 63 famílias originárias dos séculos X a XIII, apenas 7 adquiriram notoriedade manifesta antes do fim da Idade Média. É que os nobres que ascenderam então eram pequenos senhores, provindos da fase de estabilização feudal, quando se deu a subdivisão dos feudos, mencionada mais alto. A referida subdivisão e o estabelecimento consequente de uma hierarquia feudal distribuíram de modo desigual a vocação e o destino dos diferentes estratos da nobreza. Os grandes senhores e os senhores médios se lançaram nas aventuras de poderio e no dispendioso jogo das influências regionais: visados diretamente pela centralização monárquica, foram destruídos aos poucos pela própria orientação dada à sua carreira. Os pequenos senhores, ao contrário, que começaram por volta do século XIV a tomar os títulos de condes e de barões, e os ínfimos, que permaneciam castelões, preservaram-se muito mais. Não apenas por motivos numéricos de fácil referência, como pela maior capacidade de adaptação e sobrevivência que têm os pequenos nas fases de convulsão. Sangrias terríveis como a Guerra dos Cem Anos, a Guerra das Duas Rosas, a Liga Feudal, ceifaram a alta nobreza e a pequena; desta, porém, mais numerosa, surgiram os quadros que iriam preencher o grande vácuo deixado pelo desaparecimento de dinastias feudatárias ou de grandes vassalos. Quadros diferentes, recrutados entre cavaleiros, boberaux, country-squires, junkers e morgados, que iriam formar-se para os negócios, a política e a vida mundana já sob o influxo dos novos padrões renascentistas.
Do século XII ao século XVI, muitas dessas famílias vegetaram na mediania dos apaniguados ou dos fazendeiros médios, subindo bruscamente a rampa no limiar da idade moderna, para as aventuras do grande mundo; ramos cadetes de grandes senhores, ou mesmo de troncos soberanos, algumas delas chegaram ao Trono, como o ramo mais moço dos Bourbon e os Tudor.
No século XVII, em França, excetuados talvez os Montmorency e os Rohan, nenhuma família de primeira plana remontava pela alta ilustração além do século XV, embora remontasse muitas, pela origem, ao século XII e às Cruzadas. O grande nobre seiscentista era na maioria um parvenu dentro da ordem da nobreza, vindo dos estratos inferiores da hierarquia, não raro com enxertias burguesas; mas representava legitimamente aquela ordem estrutural em que tinha ingressado, pelo serviço, nos séculos de estabilização feudal, e dentro da qual tinha vivido em condição secundária até que a destruição dos estratos superiores o chamasse para a frente do seu estado. A “aculturação” com a burguesia patrícia – se for permitido falar assim – levou à integração de novos traços no comportamento, se não na ideologia nobre; trouxe novos elementos, incluídos na nobreza pela recomposição dos estratos – processos que deixaram, se não funcionalmente, estruturalmente inato o arcabouço geral do estado de nobreza como ordem social.
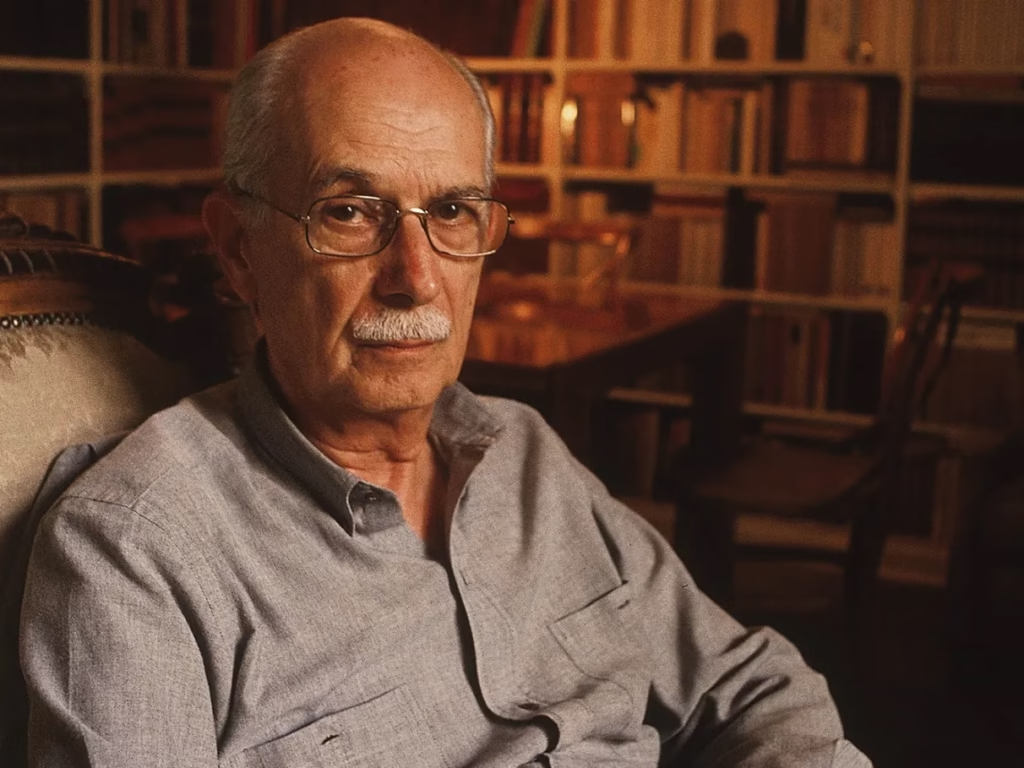
Antonio Candido de Mello e Souza
Crítico literário, parceiro do Rio Bonito e radical de classe média. Foi socialista d’outros tempos sonháveis. Ligeiro na defesa do direito à literatura como um construtor das brigadas do humanismo. Conceituou a primeira leitura social da literatura brasileira, ainda que social pelo alto. Descobridor da dialética do malandro com sinais trocados.
- Cit. Em Calmette, La Société Féodale, 5ª ed., Armand Colin, Paris, 1942, p. 72 ↩︎