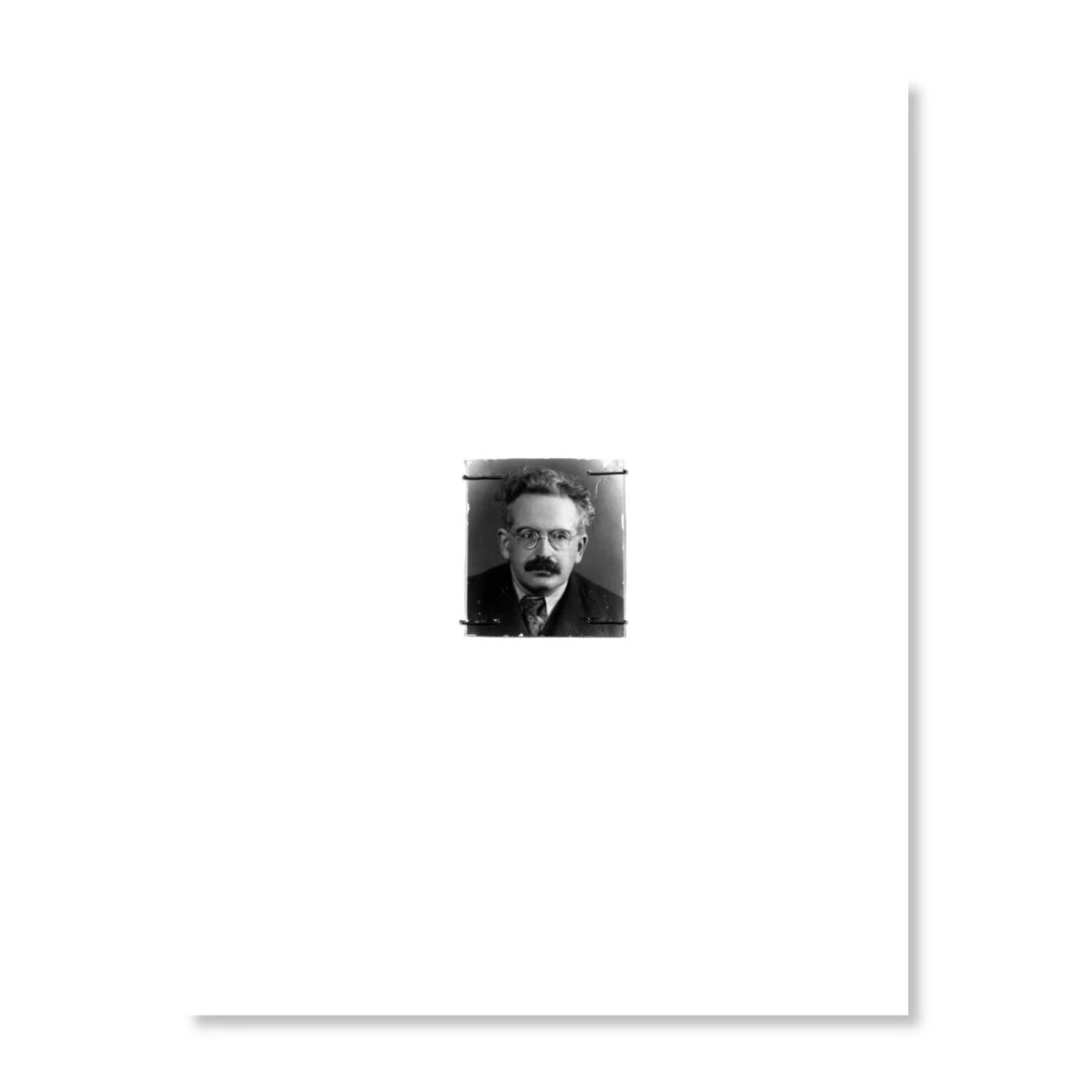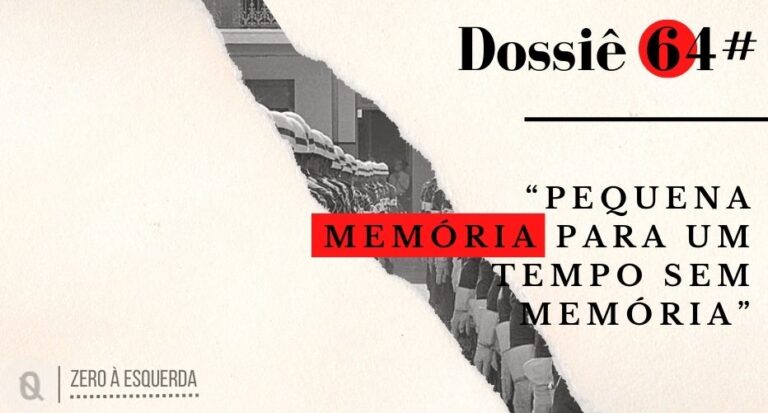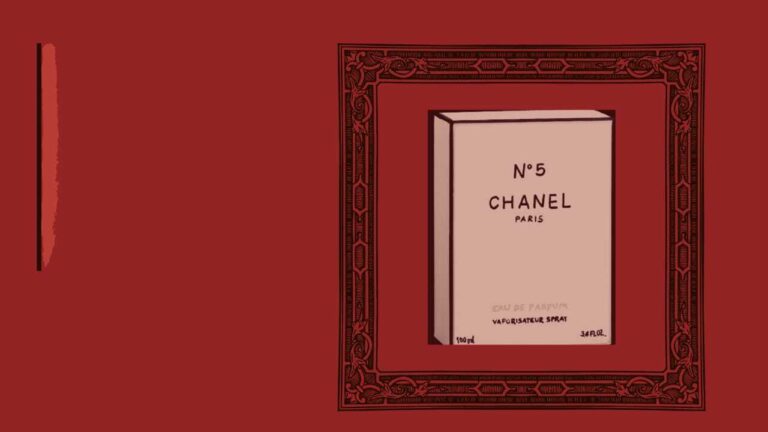“Prefácio ao livro ‘Destinos críticos de Walter Benjamin: Ensaio coletivo contra-feérico’ (2025), do Groupe Volodia, finalista do Prix Walter Benjamin 2025. Texto original disponível em: https://groupevolodia.com/destins-critiques-de-walter-benjamin/”
O capitalismo foi um fenômeno natural com o qual um novo sono, repleto de sonhos, recaiu sobre a Europa e, com ele, uma reativação das forças místicas – Walter Benjamin1
Paris, 1939. Exilado durante seis anos, Walter Benjamin, consagrou-se, mais ou menos na mesma época – as circunstâncias são bem conhecidas e qualquer outro trabalho que garantisse seu sustento desviava-o frequentemente – a um projeto de obra majoritariamente composto de citações e notas, e do qual não se saberia dizer, como com o Pétrole de Pier Paolo Pasolini, se a incompletude é uma característica essencial ou somente a consequência de uma morte precoce. A comparação com a obra, igualmente póstuma, do poeta italiano não é casual: trata-se, tanto em um caso como no outro, que se utiliza de um método original, empírico e herético, de compreender o capitalismo como uma dinâmica totalitária, ao mesmo tempo econômica, política e cultural2. Mas enquanto Pasolini busca compor uma imagem nova do capitalismo mundial do pós-guerra, Benjamin tem como único objetivo a Paris do Segundo Império.
A Paris dos comunistas e do barão de Haussmann, existe o mito, repetido até a exaustão, de um lar para espíritos iluminados e alegres boêmios – e a verdade histórica: um centro cultural comercial da burguesia industrial emergente, um laboratório de políticas urbanas e a divisão capitalista do espaço, uma fogueira de revolução.
O capitalismo, enquanto sistema-mundo, não pode ser desenvolvido a partir de um efeito exclusivamente econômico (sobre as costas dos que são explorados e da superexploração colonial das forças de trabalho; sobre as costas das mulheres que asseguram invariavelmente a reprodução) sem gerar conjuntamente seu próprio sistema de justificação, à vez moral (que virá de um viés humanista ou “realista”) e estético (que age sob o atrativo da ingenuidade da novidade mercantil ou, muito pior, da guerra enquanto estado último, e fascista, da estetização da política). Essa obra sobre Paris, na qual o método é explicitamente materialista e o conteúdo é inteiramente circunscrito sobre seu objeto, tem por objetivo tomar conta do capitalismo enquanto regime de poder integral, fazendo assim convergir todas as dimensões dessa “natureza” através da escolha de um único lugar. Não obstante sua vocação de emblema, bem como o encantamento que faz brilhar as dinâmicas históricas, é por uma montagem rigorosa de fragmentos que Benjamin se ocupa em sua tarefa de exposição.
Em 1935, a pedido do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, Benjamin redige uma primeira apresentação [exposé] que tem como objetivo dar conta de seu objeto, de seu método e das linhas de força teóricas que a sustentam. Alguns anos mais tarde, ele retoma essa apresentação, em francês, com algumas mudanças notáveis. Sem entrar aqui nos detalhes de seu conteúdo e de sua forma, insistimos somente, e brevemente, neste que se distingue da apresentação de 1939 de sua primeira versão alemã.
Benjamin descobriu Blanqui, e é essencialmente este encontro com o conspirador profissional que vai transformar a apresentação, tudo, particularmente sua introdução e sua conclusão3, ampliando sua apreensão da modernidade, como o espaço-tempo do capitalismo, para uma última fantasmagoria da ordem cosmológica: “Mesma monotonia, mesmo imobilismo nos astros estrangeiros. O universo se repete sem fim e patina no mesmo lugar. A eternidade apresenta imperturbavelmente no infinito o mesmo espetáculo”4. Seria possível, em nome de um certo realismo, conjugar essas representações e reconhecer o “fim da história” enquanto uma conclusão das formas históricas e sociais da modernidade, realização essa que não termina de ser concluída e conduz, no seu eterno retorno do mesmo, nossas fracas forças utópicas. Ao contrário de uma tal forma resignada, e de suas formas extremamente diversas (mais ou menos próximas da letra e do espírito de sua obra, muito afastadas em todo caso de uma renúncia das dinâmicas revolucionárias e da práxis), nós prestaremos atenção em outros destinos críticos de Benjamin.
Dito isso, nós podemos simplesmente nos alegrar pela diversidade de intervenções (gráficas ou textuais) propostas no centro dessa obra, consagrando assim o próprio fato da diversidade e heterogeneidade que ela supõe como o objeto abstrato de nosso percurso. Seremos perdoados por retomar essa diversidade dentro de um mesmo mundo rompido pelas estruturas raciais e patriarcais do capitalismo. Mesmo que a máquina de guerra do Capital tenha a tendência em fazer frutífera essa diversidade para melhor enfeitiça-la, retorná-la contra o Outro, esse lugar vazio de um poder a conquistar, trazemos nossa atenção sobre a junta amigável que podemos nos livrar dos (as/es) apoiadores (as) de um comunismo para os latifundiários e os (as/es) militantes de uma cosmopolíticas acêntrica, os (as/es) escritores (as) de experiências vividas e dos (as/es) pensadores do insituável, dos (as/es) poetas do literal e dos (as/es) conspiradores (as) do sonho etc., ou então, vindo do próprio Benjamin, aqueles que privilegiam sua herança anarco-niilista e aqueles que sucumbiram aos sinais vermelhos de Capri. Essa obra, composta sob o olhar travesso de um anjo, que tem como vocação acolher as nossas diferenças (formais e teóricas), não por exacerbá-los ou aboli-los, mas afim de melhor nos unir sem nos negar, e assim combater mais eficazmente a classe daqueles que têm todo interesse em construir as condições de uma guerra generalizada de todos contra todos.

Helena Xavier
Estudante de psicologia e filosofia. Interessada em estudos de gênero, psicanálise e no estudo da língua francesa.
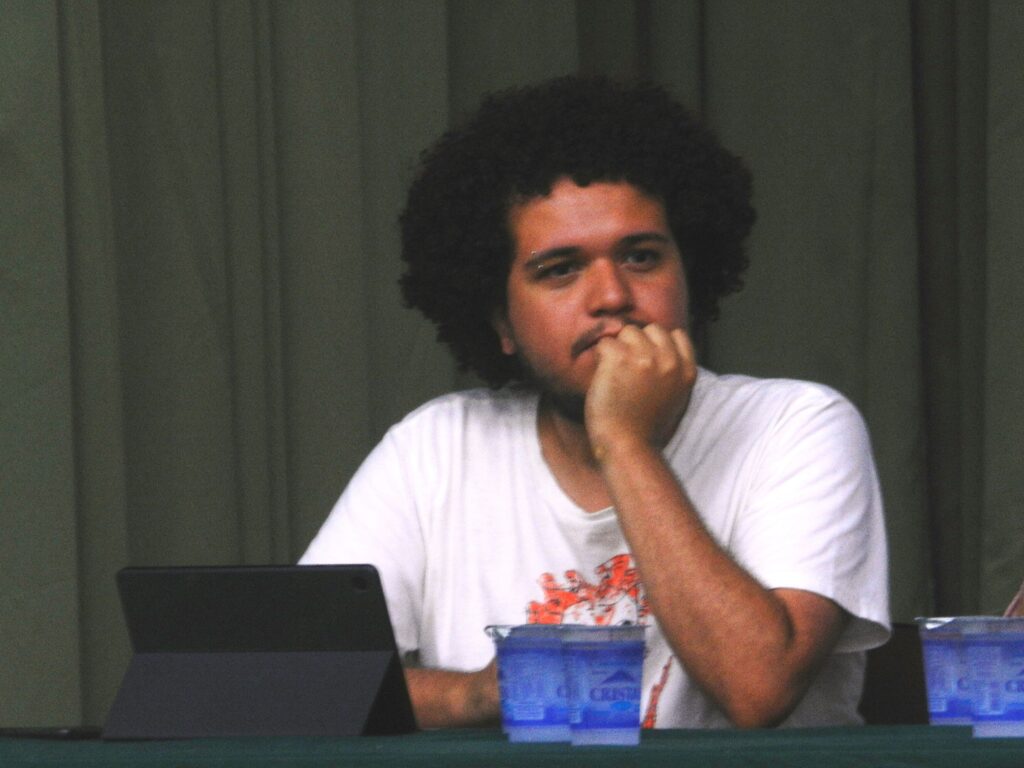
Leonardo Silvério
Tradutor, artista, ensaísta e mestrando em Filosofia na USP na área de Estética e Filosofia da Arte. Mais um zero à esquerda.
- Utilizamos a tradução do fragmento [K 1a, 8] presente na versão brasileira: Benjamin, Walter. “Cidade de sonho e morada de sonho, sonhos de futuro, niilismo antropológico, Jung”. IN: Passagens. Edição alemã de Rolf Tiedemann; organização da edição brasileira Willi Bolle; colaboração na organização da edição brasileira Olgária Chain Féres Matos; tradução do alemão Irene Aron, tradução do francês Cleonice Paes Barreto Mourão; revisão técnica Patrícia de Freitas Camargo. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018, p.664. [N.R.] ↩︎
- Para saber mais sobre as aproximações entre Benjamin e Pasolini, ver DIDI-HUBERMAN, Georges. Sobrevivência dos vaga-lumes. Tradução de Vera Casa Nova e Márcia Arbex, revisão de Consuelo Salomé. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. Ver também SANTOS, Matheus Silveira dos. Reconfigurar a história com imagens dialéticas: apontamentos a partir da obra de Pier Paolo Pasolini. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 2024. Disponível em: https://repositorio.unifesp.br/items/c8166673-9624-4f75-83aa-12d1b16024b7 [Nota do Revisor, N.R.]. ↩︎
- Por uma apresentação sintética das principais inflexões dão a exposição francesa de 1939 comparado a exposição alemã de 1935, vendo notadamente Jean-Olivier Bégot, Walter Benjamin, Berlin, 2012, p. 130-134. ↩︎
- Auguste Blanqui, citado por Walter Benjamin, em “Paris, capital do século XIX” (1939), p.17 da presente Obra [Destin critiques de Walter Benjamin] [Nota dos autores, N.A.]. Op. cit.: Benjamin, 2018, p.90. [N.R.] ↩︎